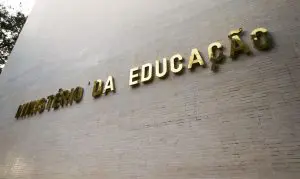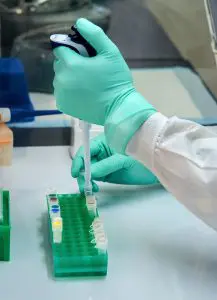Descendentes dos povos originários convivem com invisibilidade e resistência para manter tradições em meio à diversidade cultural da maior metrópole do Brasil
Na Zona Leste da cidade de São Paulo, região que concentra mais de quatro milhões de habitantes na capital paulista, Emerson de Oliveira Souza mora no distrito de Cidade Tiradentes, a 42 quilômetros do centro da capital. Professor, Souza se diferencia da imensa maioria dos 151 mil docentes do ensino público por ser um dos únicos indígenas a dar aulas em um colégio de periferia.
Da etnia Guarani Nhandeva, Souza percebe como a própria sala de aula – que, na pandemia, se tornou virtual – perpetua a falta de conhecimento sobre os povos originários. Para ele, o modelo educacional no Brasil é uma das causas da invisibilidade e da exclusão dos povos indígenas nas cidades.
Aos 47 anos e prestes a concluir um mestrado pela Universidade de São Paulo (USP), Souza defende que o currículo escolar é uma continuidade da colonização europeia. Para reverter esse processo, o professor argumenta que os fatos deveriam ser ensinados também pela perspectiva indígena. “A gente não conhece a história. É como se entrássemos na escola para continuar o trabalho das caravelas portuguesas, mas hoje as caravelas são outras”, reflete.
O caminho da educação formal não foi fácil. “Sou privilegiado por ter terminado os estudos. Na universidade, não somos indígenas, somos pobres da periferia. Entramos no mesmo bolo, nos tornamos bolsistas e a partir dali teremos abertura para outros acessos”, diz. Conhecida como a selva de pedra, com bairros onde o horizonte é preenchido por filas de edifícios de concreto, a megalópole concentra 12 milhões de habitantes que ocupam linhas de metrô, trem, ônibus e milhares de carros em extensas e largas avenidas, como a Paulista, cartão-postal.
Se hoje São Paulo é o retrato da urbanização, em 25 de janeiro de 1554, data da missa que marcou a fundação da cidade, a região era formada por floresta primária e aldeamentos itinerantes. No livro Negros da terra: Índios e bandeirantes nas origens de São Paulo, o historiador americano John Manuel Monteiro conta que exploradores portugueses encontraram três aldeias tupiniquins na região da capital. O principal assentamento indígena estava onde hoje é o Pátio do Colégio, no centro. De acordo com o autor, “estas aldeias não constituíam povoados fixos e permanentes, pois, após alguns anos, os grupos tendiam a mudar-se para um novo local”.
De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2010 – dados mais atuais deverão ser publicados em 2022 –, 11.918 indígenas vivem na zona urbana do município de São Paulo e 1.059 habitam a zona rural. Na Região Metropolitana de São Paulo, formada pela capital e por outros 38 municípios vizinhos (e onde vivem 21,5 milhões de pessoas), o programa Índios na Cidade, da ONG Opção Brasil, mapeou a presença de 72 etnias. Na capital, Guarani, Pankararé e Pankararu são as mais representativas. No entanto, a realidade tende a ser ainda mais diversa do que aquela apresentada pelos números oficiais, pois nem sempre os descendentes dos povos originários se identificam como indígenas.
Resistência urbana
Israel Raimundo dos Santos vivenciou, ainda na infância, os equívocos do currículo escolar. Durante o ensino fundamental, “aprendeu” que a sua etnia, a Tupinambá, era considerada extinta. Confuso – afinal, ele já sabia que carregava a herança indígena –, questionou sua mãe sobre o que havia lido na apostila da escola. “Ela apontou para outras pessoas da rua, nossos parentes, e mostrou que eles também eram Tupinambá. Somos Tupinambá”, afirma.
O episódio da extinção dos Tupinambás é notório e sua origem remonta aos primórdios da colonização. Em 1680, missionários jesuítas fundaram uma aldeia indígena em Olivença, na Bahia. Após a expulsão dos jesuítas em 1756, a aldeia passou a ser chamada de vila e, a partir do século 20, os indígenas foram forçados a migrar para a área rural. A partir dali, órgãos oficiais da Bahia, como jornais e cartórios, os chamavam de “caboclos” ou “pardos”. Com medo, os Tupinambás ficaram reclusos, ao mesmo tempo em que preservaram tradições, como a produção de artesanato e a divisão territorial. Em 1982, a comunidade começou a se organizar para recuperar direitos para a etnia e em 2001 os Tupinambás de Olivença foram reconhecidos pela Fundação Nacional do Índio (Funai).
O orgulho dos ancestrais ganhou cada vez mais espaço na vida de Israel, 43, que virou Sassá Tupinambá: “Prefiro que me chamem assim, pelo meu nome indígena”. O processo de construção e consolidação de sua identidade durante quatro décadas trouxe frutos evidentes para as próximas gerações: seus filhos se chamam Iandara, Ywyra e Taigwara e levam Tupinambá no sobrenome.
No caso de Sassá, a história de sua família em São Paulo começou 50 anos atrás, quando seus pais deixaram a Bahia. “Meu pai veio primeiro para trabalhar e conseguir um dinheiro. É assim que todos os indígenas vêm para cá e acabam ficando”.
Além da diversidade de povos em meio à pluralidade cultural que representa a essência de São Paulo, os modos de vida também são múltiplos. Entre aqueles que moram na cidade, as realidades se misturam pelas características de cada bairro, como a ocupação dos Pankararus em conjuntos habitacionais populares do Real Parque, no Morumbi, até bairros nobres da capital paulista, como Itaim Bibi, Moema e Pinheiros.
Há, também, aqueles que lutam para manter os modos de vida em aldeias. Os Guarani MBy’a e Guarani Nhandeva (a mesma etnia do professor Souza) vivem, respectivamente, nas Terras Indígenas Jaraguá, na Zona Norte da capital, e Tenondé Porã, no extremo sul do município, em uma região de divisa com os municípios de São Bernardo do Campo, São Vicente e Mongaguá.
A primeira, onde vivem 700 pessoas em seis aldeias – ou tekohas, em Guarani –, ficou conhecida por ser a menor área indígena do Brasil, com 1,73 hectares (área inferior a dois campos oficiais de futebol) homologados em 1987. Em 2015, o território teve 532 hectares adicionais reconhecidos pelo governo federal e vive sob pressão para que os limites sejam revisados. Em 2017, o Ministério da Justiça (MJ) anulou uma portaria emitida pelo órgão em 2015 que delimitava a reserva. A medida foi revertida pelo Ministério Público Federal (MPF) e a área aguarda homologação. O espaço reduzido no Jaraguá resultou na incidência de doenças entre a população – agravadas pela falta de saneamento básico – e na construção de moradias próximas umas das outras, o que não representa as tradições Guarani.
Em janeiro de 2020, a construtora Tenda derrubou mais de 500 árvores de Mata Atlântica nativa em um terreno de quase 9 mil metros quadrados vizinho à TI Jaraguá, comprado da prefeitura, para construir 11 torres para 2 mil famílias de baixa renda. Segundo a construtora, o projeto prevê a preservação de 50% da área. No entanto, indígenas alegam que não foram realizadas a consulta prévia, nem o estudo de impacto socioambiental. Em abril do ano passado, uma decisão da 14ª Vara Cível Federal de São Paulo proibiu a continuidade das obras. Em nota enviada à Mongabay em janeiro de 2020, a empresa afirma que “aguarda decisão judicial para a retomada das obras” e que “a companhia obteve todas as licenças necessárias para cumprir a totalidade dos ritos legais, de acordo com os órgãos competentes”.
Por sua vez, a Terra Indígena (TI) Tenondé Porã, no extremo sul da capital, onde vivem 1.175 indígenas, foi declarada em 2016 com 16 mil hectares e ainda aguarda homologação. Ali, há crianças e idosos que falam somente o Guarani e a população sobrevive com os alimentos que produz, tais como batata-doce e feijão.
Para o antropólogo e pesquisador do Centro de Estudos Ameríndios da USP, Lucas Keese dos Santos, cada aldeia vive um contexto diferente. “Não dá para afirmar que a vida dos Guarani é precária. Ela é diversa. Parte deles ocupa áreas de remanescentes de Mata Atlântica com condições ecológicas para retomar atividades de plantio tradicionais em suas culturas”, explica.
Moradora da aldeia Tekoha Ytu no Jaraguá, Sônia Barbosa, ou Ara Mirim, como foi batizada na cultura indígena, é ativista e difusora da cultura de seu povo por meio de palestras – atividade paralisada por causa da pandemia. Nas eleições municipais de 2020, Sônia integrou a chapa coletiva Jaraguá é Guarani, que obteve 10.580 votos. “Falam que a nossa comunidade é urbana. A gente vê como resistência. A aldeia existia muito antes do bairro e a urbanização chegou até nós”, pondera.
Além da luta pela demarcação do território, afirma Sônia, a prioridade é preservar a cultura Guarani. “Temos a nossa casa de reza, fazemos os nossos cantos e as nossas danças”.
Por morarem em aldeias, há políticas públicas específicas para a população indígena, como o atendimento à saúde e o acesso a escolas. Na zona urbana, eles se misturam ao restante da população. “A gente briga para ser vacinado e sempre discuto na escola dos meus filhos. Sofri racismo e preconceito e já ouvi uma professora chamar o meu filho de índio preguiçoso”, contrapõe Sassá.
Para Souza, há uma questão estrutural de invisibilização. “Costumo dizer que tem os isolados da Amazônia e os isolados da cidade. Ninguém os conhece, não se sabe onde eles estão e não se discute essa presença”, diz.
O capítulo pouco conhecido da construção do atual centro histórico de São Paulo é emblemático quanto à exaltação do conquistador. Em frente ao Parque Ibirapuera – nome indígena que em tupi-guarani significa “árvore apodrecida”, pois a região era um pântano –, está o Monumento às Bandeiras, obra em homenagem aos Bandeirantes, homens que descobriram as riquezas minerais do Brasil, escravizaram e dizimaram indígenas e quilombolas e expandiram o território nacional. “No começo do século 17, os Guarani foram trazidos pelos Bandeirantes como escravos para construírem São Paulo e as fazendas ao redor faziam uso de mão de obra nativa”, explica Santos. “Populações foram arrancadas de suas aldeias. A história é muito triste mas ela precisa ser reconhecida para que não se repita”.
Na TI Jaraguá, os seis tekohas são margeadas pela Rodovia dos Bandeirantes – paralela à ela, a Rodovia Anhanguera mantém vivas as histórias dos colonizadores Bartolomeu Bueno da Silva e seu filho, homônimo, ambos chamados de Anhanguera pelos indígenas, termo que significa ‘diabo velho’. Eles ficaram conhecidos pela brutalidade contra os povos originários. Para Sônia, que mora em uma das aldeias na TI Jaraguá, muitos não aceitam a presença dos indígenas naquele local. “Ser indígena em São Paulo é sempre estar tentando provar que estamos vivos”.
Esta reportagem faz parte do especial Indígenas nas Cidades do Brasil e recebeu financiamento do programa de jornalismo de dados e direitos fundiários do Pulitzer Center on Crisis Reporting.