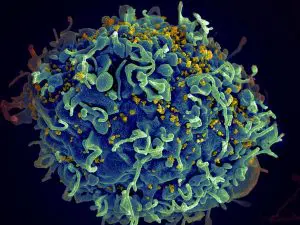Uma investigação da Mongabay revelou que empresas sem experiência técnica e financeira assinaram acordos controversos com comunidades indígenas no Brasil e na Bolívia, de olho nos lucros obtidos com créditos de carbono e a biodiversidade da Amazônia
Por Gloria Pallares – Mongabay | Em dezembro de 2022, duas terras indígenas brasileiras — entre elas, uma das maiores do país — assinaram um contrato de 118 páginas, com vigência de 10 anos. O arrependimento, no entanto, não demorou a vir: além deles, e por razões distintas, frustraram-se também os investidores que buscavam ali uma oportunidade de lucrar com o mercado bilionário dos créditos de carbono e de biodiversidade na América do Sul.
Segundo uma investigação da Mongabay, nos estados do Amazonas e do Acre, empresas que prometiam transformar as florestas tropicais em ‘ouro verde’ — uma metáfora para o potencial econômico da natureza no contexto do mercado de captura de carbono — convenceram comunidades indígenas a conceder direitos exclusivos de comercialização dos serviços ecossistêmicos oferecidos por suas terras.
Os contratos envolviam o comércio de Soluções Baseadas na Natureza (SbN), um conceito amplo de ações que englobam diferentes serviços atrelados ao ecossistema, do próprio mercado de carbono à bioeconomia.
Os projetos, que envolvem mais de 8,5 milhões de hectares, no entanto, nunca saíram do papel no Brasil. Enquanto isso, as comunidades tradicionais correspondentes solicitaram a rescisão dos respectivos contratos, o que levou uma das certificadoras a emitir um termo de cancelamento dos serviços. Ainda assim, os idealizadores da iniciativa mantiveram a promoção do projeto na internet, o que culminou em outros dois novos contratos na Bolívia — assinados, mais uma vez, sem o devido consentimento das comunidades indígenas locais.
As três companhias responsáveis por abordar os grupos indígenas no Brasil são a Biota, uma cooperativa científica argentina que comercializa produtos e soluções naturais; a Biotapass, uma startup espanhola de biotecnologia e desenvolvimento climático que já foi alvo de denúncias; e a brasileira Comtxae, que atua como intermediária das duas primeiras.
O caso tem contornos regionais. Enquanto investigações do Ministério Público e da Polícia Federal seguem em curso e líderes indígenas questionam a validade dos contratos, representantes dessas empresas buscam novos acordos de carbono na tríplice fronteira entre Brasil, Bolívia e Peru. Em contato com a Mongabay por videochamada, eles disseram que pretendem criar áreas privadas de conservação e emitir seus próprios créditos de carbono, o que, defendem, garantiria transparência, evitaria práticas de greenwashing e colocaria as comunidades no centro do processo.
O mercado voluntário de carbono existe há décadas. Mas, apesar das promessas e dos riscos associados a essa prática comercial, além do desequilíbrio de poder e de informação entre os que propõem acordos e as comunidades abordadas, o setor ainda carece de regulamentação.
Em tempos recentes, após anos de proibição, a Bolívia reabriu as portas ao financiamento de carbono, reacendendo alertas no país. O Brasil, por sua vez, só aprovaria uma lei para criar um mercado regulamentado em dezembro de 2024. Em entrevista, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) disse que a legislação brasileira representa um “avanço importante”. A entidade alertou, no entanto, que o texto não dispõe das diretrizes necessárias para orientar a supervisão de projetos de carbono em territórios indígenas.
Caminhando em um campo minado
Em nome da Funai, Nely Duarte Dollis supervisiona um território quase do tamanho de Portugal, com cerca de 85 mil quilômetros quadrados. Em seu escritório no Vale do Javari, no extremo oeste do Amazonas, a antropóloga e indígena Marubo reflete sobre os problemas que se acumulam sobre sua mesa, em seu e-mail e em sua cabeça — missionários oportunistas, garimpo ilegal, invasores armados e, agora, empresas do mercado de carbono.
“É muita coisa”, disse Dollis.
A Mongabay analisou centenas de páginas de documentos administrativos relacionados ao projeto de carbono que tem em sua mira comunidades no Amazonas e no Acre. O material, obtido por meio de solicitações de acesso à informação, sugere que autoridades e órgãos brasileiros de fiscalização também se sentem pouco preparados para lidar com diversas questões associadas aos projetos de carbono, com base nas leis e nas políticas existentes.
“Trata-se de um terreno repleto de dúvidas, preocupações, incertezas e inseguranças, de cunho técnico e jurídico, indicando um potencial lesivo às comunidades indígenas”, disse uma autoridade do alto escalão da Funai em um ofício de 2024, obtido pela Mongabay.
A questão é particularmente inquietante uma vez que, desde 2022, os territórios indígenas brasileiros têm sido inundados de propostas de projetos de carbono, uma tendência que, segundo lideranças indígenas, pode ser ampliada sob a nova estrutura regulatória.
Em resposta às perguntas enviadas pela Mongabay, a assessoria de imprensa da Funai disse, por e-mail, que duas iniciativas estão em andamento com foco em apoiar servidores públicos em meio à complexidade desse universo.
Uma delas é de autoria da Comissão Nacional para REDD+ no Brasil (Conaredd+), que desenvolveu diretrizes para programas jurisdicionais REDD+ e projetos privados de carbono nas florestas brasileiras. De forma paralela, a Funai trabalha para elaborar recomendações regulatórias com o objetivo de proteger os direitos indígenas sob a nova lei de 2024 — a legislação atribui à agência indígena e ao Ministério Público Federal a responsabilidade de supervisionar o processo de consulta para contratos futuros.
“Enquanto isso, não podemos afirmar que há segurança jurídica suficiente para que os servidores da Funai tomem medidas ou [mesmo] para que contratos [de carbono] sejam elaborados”, disse o órgão. “Na medida em que não houver regulamentação e diretrizes, orientamos os povos indígenas a não assinarem esse tipo de acordo com quem quer que seja.”
Os créditos de biodiversidade, por sua vez, continuam fora do escopo das regulamentações federais vigentes.
Anatomia de um caso polêmico
Os acordos de 2022, com duração de uma década, correspondem a duas áreas indígenas de grande importância no Brasil. No Amazonas, trata-se da Terra Indígena do Vale do Javari, onde vivem pelo menos 19 grupos originários em isolamento voluntário. Além dela, há a Terra Indígena Campinas/Katukina, no Acre, que se estende por cerca de 33 mil hectares e abriga o povo Katukina Pano; o território é cortado ao meio pela Rodovia BR-364, uma das obras federais responsáveis pelo aumento do desmatamento na região.
O projeto de carbono atrelado a essas duas áreas ancestrais, por sua vez, é liderado pelo cofundador da Biota e acionista da Biotapass, Sebastián Enrique Torres Gómez Omil. A iniciativa que comanda se propôs a atrair investimentos de centenas de milhares de dólares em criptoativos, transferências bancárias e dinheiro vivo. O plano, conforme identificado por esta investigação, era vender “certificados de compensação de carbono e biodiversidade” ao redor do mundo por meio de uma plataforma proprietária online.
Para dar a largada no negócio, essas empresas planejavam captar quase 4 milhões de dólares de potenciais investidores em 2023. A captação inicial também incluía um valor de 990 mil dólares destinados apenas a “viagens e atividades protocolares em conformidade com o Protocolo Indígena”, além do repasse de recursos para comunidades indígenas, conforme mostra o rascunho de uma apresentação comercial compartilhado com a Mongabay por um ex-acionista da Biotapass.
Ato contínuo, a concretização dessas promessas dependia da assinatura dos tais acordos, justamente no momento em que a Funai alertava que os territórios indígenas do país estavam enfrentando uma “onda” de projetos duvidosos relacionados ao mercado de carbono.
Grandes expectativas
Essas empresas tinham em seu radar comunidades indígenas que viviam da floresta, fora da rede elétrica e à margem da economia monetária. Para estabelecer contato, de acordo com uma fonte da Comtxae, solicitaram serviços de tradução. Além disso, as firmas prometiam às comunidades garantir o acesso de seus residentes a cuidados de saúde, educação, eletricidade e conexões à internet, bem como recursos para a preservação da Bacia Amazônica.
Em visita ao escritório da União dos Povos Indígenas do Vale do Javari (Univaja), as companhias disseram aos representantes de pelo menos dez associações indígenas que seus povos receberiam retornos econômicos a cada 16 semanas — e que esse pagamento combinado se iniciaria apenas quatro meses após a assinatura do contrato, em abril de 2023.
De acordo com os líderes das associações locais, todavia, tudo aconteceu muito rápido: eles relataram ter sido instruídos a assinar tudo de imediato, a despeito do tamanho do documento e da presença de termos complexos no texto — como “blockchain”, “contratos inteligentes”, entre outros.
As partes se reuniram em Atalaia do Norte, um município às margens do Rio Itaquaí, próximo à fronteira com a Colômbia e o Peru. Localizada em uma região marcada pela violência, a cidade funciona como porta de entrada para um vale com várias comunidades remotas, às quais se pode chegar, em muitos casos, apenas após longas viagens de barco.
O presidente da Univaja à época da assinatura dos contratos, Paulo Marubo, já faleceu. No entanto, três dos dez representantes indígenas que firmaram a tratativa confessaram arrependimento à Mongabay, mencionando falhas significativas no processo de obtenção do consentimento livre, prévio e informado — um direito fundamental de povos indígenas e comunidades tradicionais. Lideranças locais também destacaram a existência de divisões internas em relação aos acordos, além de danos à própria legitimidade.
“Não entendemos muito bem como funciona essa coisa de crédito de carbono”, disse Manoel Chorimpa, defensor indígena e presidente da Associação de Desenvolvimento Comunitário do Povo Marubo do Alto Rio Curuçá (Asdec). “Mais do que frustrar nossas expectativas, todo o caso nos deixou em uma posição difícil, justamente quando o movimento indígena precisa estar mais forte do que nunca para manter os invasores afastados e enfrentar as pressões sobre seu território a partir de uma posição de unidade.”
“Sabe, chegou-se a falar até em comprar [para a comunidade] um helicóptero para evacuações médicas no futuro”, disse Jaime Mayuruna, do povo que batiza seu sobrenome, à Mongabay. “Nós caímos na promessa do dinheiro fácil, contra a qual eu alerto todas as comunidades.”
Segundo diversas testemunhas, incluindo Manoel Chorimpa, a reunião com a Biota e seus parceiros deveria ter se limitado a um mero primeiro encontro para ouvir a proposta das empresas. No entanto, elas pressionaram os representantes a assinar um contrato que já estava elaborado, desconsiderando qualquer possibilidade de consulta prévia com os caciques e as comunidades do interior do Vale do Javari.
Conforme relato de Lucas Boscacci Pereira Lima da Silva, fundador da Comtxae, os empresários conseguiram a firma dos contratos de forma apressada, antes mesmo de embarcarem no avião para ir embora. Representantes indígenas e testemunhas das reuniões confirmaram à Mongabay que não havia assessores jurídicos ou terceiros presentes.
“Isso é muito prejudicial para nós”
Na Terra Indígena Campinas/Katukina, no Acre, famílias de 11 aldeias estabelecidas ao longo da BR-364 se reuniram com as empresas em 11 de dezembro de 2022. Alguns dias depois do encontro, Levi Pequeno de Souza, então presidente da Associação Geral do Povo Noke Ko’í da Terra Indígena Campinas (AGPN), assinou o contrato. Desde então, ele foi substituído.
“Você vê empresas chegando de ‘paraquedas’ em um território, conversando por um tempo com comunidades que acabaram de conhecer e persuadindo um único indivíduo a assinar um contrato de vários anos”, disse Poá Katukina, cacique dos Noke Ko’i, à Mongabay. “Isso não é consentimento livre, prévio e informado. É algo muito prejudicial para nós.”
Os Noke Ko’i têm seu próprio processo de consulta, em vigor desde 2020. O protocolo determina que as decisões sejam tomadas em assembleia geral, após um processo que venha a garantir que todas as comunidades compreendam plenamente a iniciativa em discussão e suas implicações no modo de vida comunitário. Os Noke Ko’i também exigem que o Ministério Público Federal e Estadual, a Funai, a Defensoria Pública da União e a Comissão Pró-Indígenas do Acre (CPI-Acre) estejam presentes nessas etapas.
As empresas nunca cumpriram suas promessas. Os Noke Ko’i, porém, temem que o que foi assinado ainda possa afetá-los no futuro, de alguma forma.
A última cláusula dos contratos, acessada na íntegra para esta investigação, estabelece que todas as partes mantêm os poderes e direitos previstos no acordo, mesmo que não consigam exercê-los ou caso ocorram atrasos no exercício do que foi estipulado. O documento também determina que eventuais disputas devem ser encaminhadas a um tribunal de arbitragem no Rio de Janeiro, localizado a mais de 3.600 quilômetros das áreas indígenas em questão.
“Não sei realmente qual é o status legal desse acordo”, disse Itsomi Varinawa, atual presidente da AGPN, à Mongabay. “Será que alguém poderia nos ajudar a anulá-lo de vez?”
Ao tomar conhecimento das conclusões desta reportagem, Vera Olinda Sena de Paiva, presidente da CPI-Acre e uma das principais especialistas em direito dos povos indígenas no estado, balançou a cabeça para manifestar sua descrença nesse desfecho.
“Tudo isso me parece muito errado”, disse Paiva à Mongabay, por telefone. “As entidades demonstraram uma grave falta de transparência: se algo é feito de boa-fé, todos os principais atores do território serão, no mínimo, informados, começando pelas autoridades estaduais que supervisionam as políticas climáticas e o programa jurisdicional REDD+.”
Segundo a autoridade, de forma adicional, há questões relacionadas ao próprio contrato: a língua materna dos Noke Ko’i, por exemplo, não é o português. Dessa forma, traduzir o documento para o idioma originário e preparar as comunidades para garantir um processo de participação significativo não é algo que possa ser feito em pouco tempo.
“O Brasil está reconstruindo suas instituições e restabelecendo o Estado de Direito após os anos [de governo do ex-presidente Jair Bolsonaro [2019-2022]”, disse Paiva. “Não podemos simplesmente fechar os olhos para acordos como esse, mesmo que as empresas pareçam ter recuado. Pelo contrário, temos o dever político e legal de denunciá-los para que a história não se repita.”
A Mongabay questionou o Ministério Público Federal e seus homólogos estaduais sobre o andamento da investigação, inclusive à luz dos planos dos empresários de retomar as atividades em território brasileiro. Por e-mail, as autoridades responderam que o caso transcorre sob sigilo no estado do Amazonas, onde o pedido de investigação foi feito inicialmente pelo então coordenador regional da Funai. No Acre, o caso ainda não havia sido relatado até a publicação desta reportagem.
Contratos mal elaborados
Uma análise da Funai publicada em 2024, e obtida pela Mongabay para esta matéria, apontou problemas graves no contrato do Vale do Javari — idêntico ao firmado com os Noke Ko’i. Segundo a entidade, entre os impasses, estão: a ausência de consentimento livre, prévio e informado de todos os membros da comunidade; o poder desproporcional concedido às empresas sobre o território, uma vasta quantidade de terras públicas; e o risco imposto aos grupos indígenas em isolamento, que podem ser afetados por doenças trazidas de fora, como o sarampo.
Outros sinais de alerta, de acordo com a Funai, incluem contradições relativas às metodologias aceitáveis para o carbono, acordos fiduciários incertos e um projeto-piloto de dois anos, sobre o qual não são fornecidos detalhes além da promessa de liberação de recursos às comunidades a cada quatro meses.
Além disso, conforme ressalta a análise, o contrato trata a Univaja como detentora de fato dos direitos sobre o território indígena do Vale do Javari, autorizando o grupo a comercializar todas as soluções baseadas na natureza que o território possa oferecer, sem limitações. No entanto, embora a Univaja represente os povos indígenas da região, ela não possui direitos ou propriedade sobre a terra.
O contrato envolvendo o Vale do Javari também diz que a Biota tem “vasta experiência” no desenvolvimento de projetos bem-sucedidos de carbono e biodiversidade. De acordo com a Funai, “é essencial saber qual é a experiência das empresas na implementação desse tipo de projeto e se elas têm capacidade técnica e financeira para realizar as atividades descritas no contrato”.
Enquanto isso, os empresários parecem sustentar a validade dos contratos apresentados às comunidades indígenas e o processo que levou à assinatura. Por e-mail, em resposta à Mongabay, Torres, da Biota, disse considerar os contratos claros, favoráveis às comunidades e alinhados às salvaguardas sociais, acrescentando que sempre agiu de acordo com os mais altos padrões éticos.
Em sua resposta enviada à reportagem, o representante da empresa argentina disse que o contrato de 118 páginas sobre créditos de carbono e biodiversidade foi elaborado pela Comtxae em conjunto com as associações indígenas; segundo ele, os presidentes dessas mesmas associações teriam insistido para que o documento contemplasse todas as soluções baseadas na natureza.
“Eles [os representantes indígenas] são pessoas muito bem informadas, e tudo estava claro para eles”, disse Torres. “Cada grupo étnico tinha equipes jurídicas que os auxiliaram [durante a reunião com as empresas] e entenderam tudo perfeitamente.”
Representantes indígenas e testemunhas ouvidas para esta investigação — incluindo Boscacci, da Comtxae — rejeitaram as alegações. Ainda assim, Boscacci defendeu o processo inicial que levaria à assinatura acelerada do contrato: “Os líderes decidiram seguir adiante com as negociações da forma como fizemos. Ninguém estava apontando uma arma para a cabeça de ninguém”, disse.
“Chamaremos menos atenção”
Nas semanas prévias à reunião, Torres e seu sócio espanhol, Alejandro Gómez, reuniram-se nas planícies do Chaco, na Argentina, em preparação para a viagem ao Brasil. Em 21 de novembro de 2022, ambos assinaram um recibo confirmando o pagamento de 50 mil dólares em dinheiro feito por um investidor argentino para financiar o empreendimento de carbono no país vizinho.
Uma minuta do mesmo contrato com o investidor afirmava que a Biotapass estava em “negociações avançadas” com as comunidades do Vale do Javari e mostrava as primeiras cláusulas do acordo que esperavam concretizar.
Entre os documentos que Boscacci compartilhou com a reportagem, constava uma mensagem separada da Biotapass ao investidor, que explicava a escolha das palavras para o contrato com os povos indígenas: “As soluções baseadas na natureza incluem créditos de carbono, entre outros, conforme descrito no relatório do plano da semana passada. Ao usar [o termo] SbN, chamaremos menos atenção e tornaremos o contrato o mais abrangente possível.”
A mensagem também solicitava 143.500 dólares para acelerar o processo de consulta (com o objetivo de converter uma espera de três meses em um período de poucos dias), além de detalhar valores e conceitos. Por exemplo, o orçamento previa 38 mil dólares a serem pagos à Funai por autorizações para negociar com os povos indígenas. Cada um desses itens foi integralmente fabricado pelos empresários, conforme verificado por esta investigação.
Torres disse que Gómez foi o autor do documento, mas não fez comentários sobre seu conteúdo; o sócio espanhol, por sua vez, não respondeu aos pedidos de comentário da Mongabay.
Um manual de desinformação
Após a assinatura dos contratos, as empresas deixaram os territórios indígenas no Brasil. “Conseguimos tudo, tudo, tudo”, diz uma mensagem de Torres, redigida apenas com letras maiúsculas, para um contato na Espanha, em dezembro de 2022; o texto foi compartilhado com a Mongabay por um ex-acionista da Biotapass.
A partir daí, a situação começou a se deteriorar.
Em junho de 2023, um acionista espanhol da Biotapass — que também havia viajado ao Brasil — acusou Torres e cinco de seus associados de má gestão financeira, fraude e associação criminosa, como parte de uma ação judicial que incluía transferências bancárias, transações de criptoativos e recibos de pagamentos em espécie. As alegações levariam à liquidação da Biotapass e a uma segunda ação judicial na Argentina, em dezembro de 2023. O caso na Espanha foi arquivado em 2024, mas o que foi aberto em solo argentino ainda estava em andamento no momento em que esta investigação foi concluída.
Mesmo assim, ainda que as investigações sobre os tais projetos permanecessem em curso, o site da Biota seguiu apresentando os acordos com os territórios indígenas até o final de 2023.
Em uma carta de apresentação aos investidores, de fevereiro de 2023, por exemplo, Torres disse que a Biota era responsável por assessorar a Cercarbono (um padrão internacional voluntário de certificação de carbono), além de governos e ONGs, sobre protocolos de carbono e biodiversidade e desenvolvimento sustentável. Ele então anunciou a assinatura de dois “contratos históricos” com o consentimento de todos os caciques e membros da comunidade nos territórios do Vale do Javari e Campinas/Katukina.
“Estamos trabalhando ativamente, em conjunto com a AGPN, para encontrar empresas que possam ajudar essas comunidades indígenas por meio de patrocínios, doações e, em breve, oportunidades de investimento em créditos de carbono e biodiversidade derivados desses territórios”, disse, na carta. Entre outras solicitações, ele pediu 3 mil dólares para uma festa dos Noke Ko’i e outros 10 mil dólares para alimentar as comunidades, por um ano, por meio da piscicultura.
As alegações de Torres, no entanto, não parecem ter se sustentado.
Em um e-mail enviado à Mongabay, Torres disse que a Biota, atualmente, está desenvolvendo protocolos para seus clientes em conformidade com as normas internacionais, como a Verra, o Registro Internacional de Carbono (ICR, na sigla em inglês) e a Cercarbono, com sede na Colômbia.
Em entrevista, o fundador e presidente da Cercarbono, Carlos Trujillo, disse que sua empresa nunca colaborou com a Biota ou a Biotapass e que Torres foi advertido por fazer alegações nesse sentido: “Eles estão usando nosso nome para sugerir que seus protocolos estão em conformidade com as normas e regulamentos internacionais. É muito difícil controlar isso.”
Em novembro de 2023, a certificadora sul-americana já havia enviado uma carta de cessação e desistência à empresa, obtida por esta investigação. “As declarações feitas em sua página digital, dizendo que certificam projetos sob o padrão Cercarbono, não têm base legal, são falsas e geram confusão para as empresas e indivíduos que interagem com seu site e são prejudiciais para nós”, dizia a correspondência, compartilhada por Trujillo com a reportagem.
A Biota, por sua vez, diz ter “mais de 20 anos de experiência em mercados internacionais de carbono”, uma afirmação online que se estende ao envolvimento da companhia com comunidades e investidores. A Mongabay pediu que Torres comprovasse as afirmações da empresa; em resposta, ele disse que “todo o trabalho que fazemos é confidencial”.
Vozes indígenas
Após seis meses aguardando que as empresas cumprissem suas promessas, os líderes indígenas do Vale do Javari resolveram estabelecer seus próprios prazos. Entre setembro e outubro de 2023, a Organização das Aldeias Marubo do Rio Ituí (Oami) e a Associação Kanamari do Vale do Javari (Akavaja), ao lado da já citada Asdec, endereçaram cartas às empresas, à Univaja e às “autoridades competentes”, pedindo o fim dos contratos.
Segundo as entidades, as companhias as utilizavam para seus próprios fins, sem entregar resultados tangíveis para as comunidades.
“Sabemos que a Biota/Biotapass tem usado o nome das organizações do território indígena para realizar negociações e [discutir] parcerias sem consultar todas as comunidades [representadas pela Univaja]”, escreveu Alfredo Barbosa da Silva Marubo, presidente da Oami, em um dos documentos obtidos pela Mongabay. Nela, ele pediu que autoridades investigassem e punissem as entidades da forma correspondente.
A Biota não desistiu por escrito do contrato do Vale do Javari até fevereiro de 2024, sob pressão de um inquérito que ainda está em andamento no estado do Amazonas. As alegações no site da Biota, de que a Funai era uma de suas “estruturas e salvaguardas” (usando um logotipo contendo a palavra “Funai”, mas pertencente à empresa japonesa Funai Electric Co. Ltd.), e de que estava trabalhando com comunidades indígenas no Brasil, só seriam removidas no final de 2023.
Torres disse à Mongabay que não tinha conhecimento de quaisquer perguntas ou preocupações por parte dos representantes indígenas, embora eles participassem de um mesmo grupo de conversas no WhatsApp.
Ele acrescentou que a Biota aconselha atualmente a Associação Marubo de São Sebastião (Amas), que integra a Univaja, diante de uma necessidade de subdividir o território indígena. “Estamos trabalhando junto com eles, ajudando-os a estruturar essas subdivisões para cada grupo étnico, para que possam entrar em projetos com segurança fundiária suficiente para evitar objeções do mercado internacional [de carbono]”, disse o representante da empresa.
A frase difere do posicionamento da associação. “Sou o presidente da Amas e não conheço essa Biota”, disse Jorge Marubo à Mongabay. “Além disso, nossa associação não está buscando desenvolver projetos de carbono com nenhuma instituição no momento: eles são complexos, cheios de incertezas jurídicas e carecem de transparência.”
O coordenador-geral da Univaja, Bushe Matis, disse que também não vê o território do Vale do Javari aderindo ao mercado de carbono tão cedo: “Como o dinheiro seria distribuído? Os Korubo [grupo que estabeleceu contato recente com não-indígenas], por exemplo, nem sequer têm uma associação e há grupos indígenas isolados”, disse Bushe. “Coletivamente, ainda não temos um bom entendimento do que são créditos de carbono nem um consenso sobre a repartição de seus benefícios.”
Bolívia: a nova fronteira do carbono
Enquanto as comunidades brasileiras aguardavam o dinheiro prometido pelas empresas, a Biota, juntamente com Mariel de Nascimento Macedo, contador e ex-membro da Comtxae que agora dirige sua própria empresa, a Golden River, começou a explorar negócios semelhantes na vizinha Bolívia.
A mudança ocorreu em 2023, um ano antes do país suspender as restrições à “mercantilização” da natureza, abrindo as portas para a entrada dos mercados de crédito de carbono e de biodiversidade.
Um dos acordos firmados pela Biota foi estabelecido com comunidades do território do Baixo Paraguá, com 374.151 hectares, lar dos povos Chiquitano e Guarasug’we. A área faz parte da Chiquitania, uma das florestas tropicais secas mais bem preservadas do continente americano. O outro contrato, de 23 de outubro de 2023, foi firmado junto a comunidades do território Yuracaré y Trinitaria El Pallar (78.651 hectares), uma faixa de floresta amazônica de transição que abriga os povos Yuracaré e Mojeno Trinitario.
Em uma apresentação feita em 2024 a um potencial investidor, e também obtida pela Mongabay, Torres estimou que os créditos desses dois contratos certificados pela Verra, cobrindo mais de 450 mil hectares, poderiam gerar pelo menos 116 milhões de dólares — e talvez até o dobro nos próximos 30 anos. Na proposta, Torres disse que havia levantado 130 mil dólares e solicitou outros 50 mil. Uma segunda fase exigiria um dinheiro bem maior.
Ele também observou que estava de olho em 600 mil hectares de floresta tropical no departamento de Pando, no norte boliviano.
No entanto, esta reportagem descobriu que as comunidades mencionadas nos contratos não sabem quase nada sobre a Biota e os acordos envolvendo suas terras — territórios ancestrais com ecossistemas únicos sob pressão de madeireiros, agricultores industriais, grileiros e garimpeiros que disputam os recursos naturais da Bolívia.
“Nossas terras foram devastadas por incêndios”, disse Claudio Lino, atual presidente da Associação Indígena Bajo Paraguá (Cibapa), à Mongabay. “Precisamos de apoio para restaurá-las, mas [vindo] de parceiros confiáveis, que sejam transparentes e que não nos levem ao fracasso.”
Torres disse que cancelou o contrato com Bajo Paraguá porque era incompatível com seu plano de manejo florestal, mas está dando continuidade ao acordo com Yuracaré y Trinitaria El Pallar. Jaime Yuco, presidente do Conselho Indígena do Povo Yuracaré-Mojeño (Cypim), disse em entrevista que não tinha conhecimento desse fato.
Segundo Yuco, Marleny Montejo Asín, a mulher com quem a Biota alegou ter mantido contato no território, nunca foi eleita pela maioria dos membros da comunidade em uma assembleia geral, o que significa que ela não é uma representante legítima. A informação foi confirmada à reportagem pela Confederação dos Povos Indígenas da Bolívia (Cidob) e por especialistas independentes em direito indígena.
Na visão de Yuco, a responsabilidade de uma empresa que planeja ganhar milhões com essas terras é de, pelo menos, conhecer cada uma das 14 comunidades e garantir envolvimento com seus representantes verdadeiros: “Você já viu as dificuldades extremas que nosso povo enfrenta? A ideia de pessoas tentando lucrar às nossas costas me deixa revoltado”, disse.
Consultor da Cypim, Rolando Bueno Carlo, disse que tal contrato jamais poderia ter validade: “Se um pseudo-líder assina um acordo em nome do povo, o documento é apócrifo. A empresa não pode fazer nenhuma reivindicação porque o território é de propriedade coletiva.”
No departamento de Pando, na Amazônia boliviana, a Biota assinou um terceiro contrato com a organização sem fins lucrativos Funsol, além de uma carta de intenção com a Universidade Amazônica de Pando, para promover soluções baseadas na natureza, incluindo a emissão de créditos de carbono. A ideia, segundo Torres, era que os projetos de carbono da Biota acabassem pagando pelos serviços da Golden River, empresa de Macedo — com sede em São Paulo, a companhia oferece serviços como internet via satélite, purificação de água e painéis solares em comunidades na região da tríplice fronteira.
Em entrevista, Miguel Vargas Delgado, diretor-executivo do Centro de Estudos Jurídicos e Investigação Social (Cejis), uma organização boliviana sem fins lucrativos, alertou que o país andino está permitindo que os defensores do carbono atuem livremente por todo o território, sem qualquer salvaguarda. Ele também explicou que não são feitas discussões de mecanismos de repartição de benefícios ou mesmo de consideração dos riscos aos direitos à terra, à soberania e aos meios de subsistência tradicionais.
“Um punhado de entidades está dividindo nosso território, ao estilo neocolonial, enquanto as novas políticas continuam frouxas e o governo carece de capacidade técnica ou humana para realizar um monitoramento sério”, disse Delgado.
O Observatório dos Direitos dos Povos Indígenas na Bolívia, ligado ao Cejis, expôs, em março de 2025, um acordo de carbono envolvendo a Fundação Federico Hecker. Os termos, no entanto, foram rejeitados pelas comunidades indígenas, uma vez que a tratativa buscava o controle de 88% das terras tituladas do Território Indígena Multiétnico II — uma área de 407.585 hectares que abriga 36 comunidades — por 30 anos, sem “a possibilidade de revisão ou decisão soberana”.
Enquanto isso, e à medida que o apoio da Europa flui para a Bolívia em nome de iniciativas jurisdicionais de carbono, Delgado pediu que doadores reconheçam o problema vindo de negócios paralelos e inescrupulosos, pedindo apoio para o desenvolvimento de salvaguardas adequadas.
Superando divisões
Na Bolívia, defensores do mercado de carbono se beneficiam das divisões dentro do movimento indígena, uma tendência que surgiu quando o ex-presidente Evo Morales chegou ao poder, em 2006. Associações como Cibapa e Cypim não ficaram de fora dessa contenda, com líderes rivais protagonizando disputas internas por legitimidade.
Os conflitos são resultado de anos de politização das entidades indígenas em nível nacional e regional. As quedas de braço semearam discórdia, enfraqueceram a influência das entidades e abriram espaço para empresas sem princípios, de acordo com ativistas, ONGs locais e assessores indígenas que falaram com a Mongabay de forma anônima, temendo retaliação.
“A política vai e vem, mas somos nós, que vivemos na terra e dela tiramos nosso sustento, que sofremos as consequências”, disse Maida Peña, segunda grande cacique da nação Chiquitana. No topo de suas preocupações estão os impactos da extração de madeira e dos gigantescos incêndios que devoram a floresta na última década — eventos impulsionados pela expansão da fronteira agrícola e, em alguns casos, pela própria perspectiva de ajuda financeira.
“Projetos de carbono e bioeconomia, quando bem executados, podem ser uma forma de garantir que nossas florestas tenham mais valor em pé do que derrubadas”, disse Peña. “Estamos sofrendo, sim — mas também estamos lutando.”
O que está no plano das empresas
A Biota repaginou sua marca e está de olho em 1,7 milhão de hectares no Brasil, na Bolívia, no Peru e na Argentina. Em uma entrevista em vídeo, Torres disse à Mongabay que a companhia planejava lançar seu próprio padrão de carbono até o final de 2025, comercializando os créditos resultantes por meio de uma plataforma online proprietária.
Ao falar sobre a abordagem de conservação de carbono da Biota — à época, antes da realização da Conferência do Clima da ONU no Brasil (COP30), em novembro de 2025 — Torres disse: “planejamos apresentar um modelo que pode ser rapidamente replicado [em toda a Amazônia] devido ao seu sucesso social, econômico e ambiental.”
Em 2024, a Biota contratou Álvaro Vallejo Rendón, ex-diretor da União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN) para a América Latina, autoridade global em conservação. Torres disse que Rendon se juntou à empresa por causa de sua abordagem centrada na comunidade.
Macedo, da Golden River, por sua vez, disse estar em contato com mais de 100 comunidades, incluindo os Ticuna e os Huni Kuin, dos estados brasileiros de Amazonas e Acre, respectivamente. Ele relatou à Mongabay que uma de suas primeiras medidas com a Biota no país envolverá a emissão de créditos de carbono do agronegócio e que pretende promover seu modelo de negócios como exemplo em reuniões com a Funai e em eventos climáticos.
Boscacci, da Comtxae, disse que planeja trabalhar com comunidades urbanas, deixando para trás o trabalho em territórios indígenas — bem como as reclamações que o acompanham. Ele afirmou que a empresa sempre agiu de forma ética, inclusive no que diz respeito aos contratos de carbono.
Já Gómez, ex-sócio espanhol de Torres, deixou os empreendimentos de carbono e tentou se envolver com comunidades indígenas por meio de uma nova ONG, a Indigenía — essa iniciativa, no entanto, fechou as portas em setembro de 2025.
A corrida do ‘ouro verde’
Hilton da Silva Nascimento, do Centro de Trabalho Indigenista (CTI), do Brasil, disse que vê um grande potencial no financiamento climático. Ao mesmo tempo, o especialista se mostrou preocupado com as práticas das empresas do ramo dos créditos: “O carbono é a nova borracha. O que estamos testemunhando é uma corrida pelo ‘ouro verde’ que coloca os lucros acima do bem-estar das comunidades no longo prazo.”
Especialistas consultados pela Mongabay concordaram que acordos obscuros — seja por falta de competência ou por má-fé — podem gerar consequências sociais graves, mesmo que os créditos de carbono nunca cheguem a ser emitidos.
Por isso, disseram, trazer essas situações à luz da opinião pública é algo de grande importância.
“O impacto que promessas não cumpridas podem ter sobre as comunidades é algo que precisa ser levado a sério”, disse Igor Richwin, consultor técnico de organizações indígenas; ele colaborou com o desenvolvimento das primeiras diretrizes do Brasil para projetos de carbono em territórios indígenas, em 2010.
Segundo Richwin, os modelos de negócios predominantes tendem a estimular disputas por território, enfraquecer a governança local e alimentar conflitos internos. Nesse processo, argumenta, interesses comerciais muitas vezes se sobrepõem ao que deveria ser prioritário: a proteção territorial e o bem-estar social das próprias comunidades que deveriam estar no centro da tomada de decisões.
Este texto foi originalmente publicado pelo Mongabay, de acordo com a licença CC BY-SA 4.0. Este artigo não necessariamente representa a opinião do Portal eCycle.