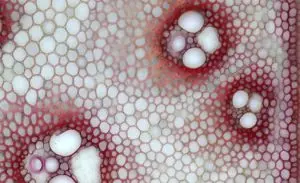Pesquisadores investigam desafios enfrentados por crianças e adolescentes imigrantes e refugiados, tema ainda pouco discutido nas universidades brasileiras
Por Ana Paula Orlandi em Pesquisa Fapesp – “Uma menina venezuelana atravessa o portão da aduana brasileira. Com duas tranças e laço de fita rosa no cabelo, veste casaco também rosa e leva uma mochila aparentemente pesada nas costas um pouco curvadas. Debaixo do braço carrega um travesseiro grande quase do tamanho de seu corpo magro e miúdo. O rosto está sério; a aparência, cansada. Os passos estão firmes e um pouco apressados, seguindo a mulher que vai na frente. O olhar, perdido. As duas seguem o fluxo e chegam num espaço com bancos de madeira enfileirados para aguardarem o primeiro de uma série de atendimentos. Adultos e crianças, todos de aspecto cansado, se juntam na mesma espera por informações. Nesse momento, não há prioridade para ninguém.”
O trecho acima integra o diário de campo da pesquisadora Fernanda Paraguassu, reproduzido em sua dissertação de mestrado “Narrativas de infâncias refugiadas: A criança como protagonista da própria história”, defendida em 2020, no Programa de Pós-graduação em Comunicação e Cultura da Universidade Federal do Rio de Janeiro (ECO-UFRJ). Para realizar o estudo, que acaba de ser premiado como o melhor nessa categoria pela Associação Nacional dos Programas de Pós-graduação em Comunicação (Compós), ela visitou abrigos de refugiados venezuelanos em Roraima e conversou com crianças de 7 a 12 anos, refugiadas ou solicitantes de refúgio, oriundas da própria Venezuela e da República Democrática do Congo e radicadas no Rio de Janeiro.
“O grande desafio não foi a barreira linguística, mesmo porque as crianças já se expressavam em português, mas conquistar a confiança dos responsáveis e das próprias crianças”, diz a pesquisadora, que ao longo do processo de intermediação teve ajuda de organizações não governamentais e valeu-se de atividade lúdica para interagir com elas. “A ideia foi estabelecer uma comunicação capaz de criar vínculos”, diz o marroquino radicado há três décadas no Brasil Mohammed ElHajji, orientador da pesquisa de Paraguassu na UFRJ. “Em geral, a criança não escolhe migrar. Além da falta de autonomia para opinar, costuma ser invisibilizada nesse processo. É fundamental que ela tenha voz ativa.”
O mesmo problema reverbera na academia. “Existem poucas pesquisas no Brasil sobre crianças e adolescentes refugiados e imigrantes. A maioria dos estudos sobre questões migratórias está focada nos adultos e suas motivações”, afirma Katia Norões, professora do curso de pedagogia da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS). “Em termos de pesquisas, a situação é ainda pior em relação às crianças menores, com até 6 anos”, completa o pedagogo Flávio Santiago, que atualmente investiga em estágio de pós-doutorado na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (FE-USP) a situação de imigrantes de origem africana nas unidades de educação infantil paulistanas.
Para dar visibilidade ao tema, a dupla organizou o dossiê Migrações internacionais e infâncias, publicado recentemente na revista Zero-a-Seis, do Núcleo de Estudos e Pesquisas da Educação na Pequena Infância da Universidade Federal de Santa Catarina (Nupein-UFSC). A edição reúne trabalhos de pesquisadores brasileiros e estrangeiros de áreas como geografia, educação, sociologia, psicologia e direito. “A meta foi colocar a criança como protagonista na discussão sobre os contextos migratórios tanto no Brasil quanto no exterior e abordar o tema sob um viés interdisciplinar”, explica Norões.
“A imigração é um fenômeno irreversível no mundo contemporâneo”, aponta a socióloga Rosana Baeninger, professora aposentada do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas (IFCH-Unicamp) e pesquisadora do Núcleo de Estudos de População (Nepo), da mesma instituição. Segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (Acnur), o número de pessoas em deslocamento forçado em 2020 atingiu o patamar mais alto já registrado pela instituição, totalizando 82,4 milhões de indivíduos em todo o planeta. Desses, mais de 26,4 milhões buscaram refúgio em outros países.
Pelo mesmo levantamento, crianças e adolescentes correspondem a aproximadamente metade da população refugiada no mundo. No Brasil, entretanto, a situação é diferente. De acordo com o podcast Refúgio em pauta, produzido pelo próprio Acnur em parceria com 23 universidades brasileiras que integram a Cátedra Sérgio Vieira de Mello, em 2020, as crianças representavam cerca de 10% dos 57 mil refugiados que viviam no país. A maioria delas estava radicada nos estados de Roraima, São Paulo e Rio de Janeiro e era oriunda da Venezuela, Síria e República Democrática do Congo.
“O número de crianças refugiadas aqui é bem menor do que a média global por várias razões. Uma delas é a distância geográfica entre o Brasil e países da África e Oriente Médio, fator que encarece e inviabiliza a viagem com crianças”, observa a socióloga Monique Roecker Lazarin, da Casa de Acolhida Dom Luciano Mendes de Almeida, que atende imigrantes e refugiados venezuelanos na cidade de São Paulo. Em dissertação de mestrado defendida em 2019 no Centro de Educação e Ciências Humanas da Universidade Federal de São Carlos (CECH-UFSCar), Lazarin analisou dados do Comitê Nacional para os Refugiados (Conare), vinculado ao Ministério da Justiça, para traçar o perfil das crianças que chegaram ao Brasil entre o final dos anos 1990 e 2016. “Faltam dados específicos sobre a imigração infantil no Brasil e isso é um entrave para os pesquisadores”, justifica a socióloga Anete Abramowicz, da FE-USP, que orientou a pesquisa.
De acordo com Lazarin, a migração forçada que ingressou no Brasil naquele período era, sobretudo, adulta e masculina. Entre as crianças havia uma proporção mais equânime na quantidade de meninos e meninas. Nesse caso, segundo Abramowicz, é fundamental atentar para a questão de gênero. “As meninas refugiadas costumam assumir o papel de cuidadoras da casa quando as mães vão trabalhar fora e não conseguem estudar”, aponta a pesquisadora. “Elas precisam de atenção pedagógica para não abandonar a escola e enfrentar ainda mais barreiras ao longo da vida.”
“A educação tem um papel muito importante na inserção social de crianças e famílias imigrantes e refugiadas”, destaca Lineu Kohatsu, do Instituto de Psicologia (IP) da USP e um dos organizadores do Seminário Internacional sobre Imigração e Educação, realizado recentemente no Instituto de Estudos Avançados (IEA) da mesma universidade. Com ele, concorda Paraguassu. “Em geral as crianças aprendem o idioma local antes dos pais e se tornam a ponte da família com a sociedade. Com isso, acabam assumindo de forma prematura papéis de grande responsabilidade, como a leitura de contratos de banco ou aluguel”, relata a pesquisadora, autora do livro infantil A menina que abraça o vento: A história de uma refugiada congolesa (Voo, 2017).
Embora não haja no Brasil legislação específica para garantir o acesso de crianças refugiadas à educação, essa questão vem evoluindo desde a década de 1990 com a criação de ferramentas como o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). É o que apontam as pesquisadoras Maria Luiza Posser Tonetto e Joséli Fiorin Gomes no artigo “‘Um filho no mundo e um mundo virado’: Uma análise sobre obstáculos à efetividade do acesso à educação de crianças refugiadas no Brasil”, publicado no dossiê da Zero-a-Seis. “Temos leis muito boas, mas que precisam ser mais bem aplicadas, interpretadas com maior sensibilidade”, defende Gomes, professora do curso de direito da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Na opinião de Tonetto, não basta dar acesso à escola. “É preciso que a escola esteja de fato preparada para receber esses imigrantes”, constata. Segundo ela, um dos entraves está na documentação na hora da matrícula. “No andamento do processo de refúgio, o Conare emite um termo de declaração que, de acordo com a legislação atual, garante o direito à educação. Entretanto, por falta de informação ou preciosismo, muitas vezes as secretarias das escolas não aceitam o documento ou exigem certificados que a família não possui, como histórico escolar”, completa a pesquisadora, que investiga a questão em seu mestrado em educação na UFSM.
Em pesquisa de pós-doutorado desenvolvida na Universidade do Porto, em Portugal, Kohatsu, do IP-USP, analisou a experiência de acolhimento em uma escola municipal de ensino fundamental de São Paulo, onde 20% dos 490 matriculados eram procedentes de outros países ou filhos de imigrantes, sobretudo da Bolívia. “Havia muita discriminação e bullying contra esses alunos até 2011, quando um novo diretor assumiu a escola e iniciou ações de diálogo com os pais e os alunos. Gradativamente outros professores passaram a assumir a coordenação de projetos que valorizavam a cultura do imigrante”, conta. “Segundo a equipe da escola e as famílias imigrantes ouvidas pela pesquisa, essas ações reduziram de forma significativa as manifestações explícitas de preconceito e discriminação, além de ter possibilitado maior interação entre os alunos.”
Conforme Baeninger, a percepção da sociedade brasileira em relação a crianças imigrantes e refugiadas vem mudando ao longo do tempo – não necessariamente para melhor. “Se as crianças brancas, de origem europeia, que vieram com suas famílias dentro da política migratória do governo brasileiro, na virada do século XIX ou então após a Segunda Guerra Mundial, eram aceitas mais facilmente, infelizmente o mesmo não acontece com as crianças que chegaram nos últimos anos, muitas delas negras ou de origem indígena, mais suscetíveis ao racismo e à xenofobia”, lamenta. A especialista lembra que no século XXI, com o fechamento das fronteiras do Norte global por questões econômicas, a migração se dá, sobretudo, entre os países do Sul do planeta. “É preciso que a sociedade brasileira esteja preparada para receber esses novos fluxos migratórios, em particular no contexto de crises, como o caso das crianças afegãs, e entenda que nosso futuro é multicultural”, conclui.
Este texto foi originalmente publicado por Pesquisa FAPESP de acordo com a licença Creative Commons CC-BY-NC-ND. Leia o original.