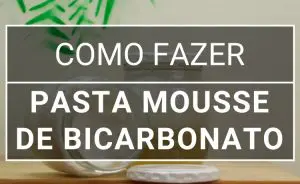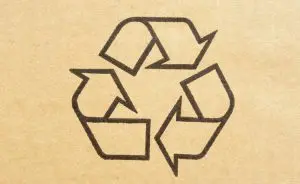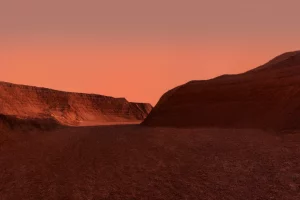Guilherme Moura Fagundes defende que para promover uma restauração ambiental é necessário ouvir os povos tradicionais que a constituíram
Por Sophia Vieira – Jornal da USP | Com o agravamento da crise climática, o tema da restauração ambiental se tornou a ordem do dia em diversos debates, ocupando o discurso de governos, empresas e organizações internacionais. Mas uma questão muitas vezes passa batida: quem criou a biodiversidade que se quer restaurar. No Brasil, os biomas que hoje se tentam recuperar não são obra unicamente da natureza. Eles foram moldados por milênios de práticas indígenas, por técnicas de cultivo, uso do fogo e jardinagem agroflorestal. Mesmo assim, essas formas de manejo são invisibilizadas na maior parte das políticas ambientais. Quem explica sobre a inclusão das perspectivas indígenas e dos povos tradicionais na restauração ambiental é Guilherme Moura Fagundes, professor da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP.
“Os saberes e práticas indígenas, quilombolas e tradicionais se consolidam em técnicas tão sofisticadas quanto as técnicas contemporâneas de conservação e restauração ambiental.” O professor começa explicando o recente entendimento da natureza como algo constituído junto à intervenção humana. “Nos últimos 30 anos, a arqueologia tem provocado uma reviravolta no nosso entendimento a respeito da floresta. Ela deixa de ser pensada enquanto uma natureza prístina, original, intocada, e cada vez mais avança o entendimento de que a floresta se constitui a partir de grandes jardins.”
Restauração de valores
A restauração, como lembra Fagundes, nunca é neutra: ela implica decidir qual natureza se quer restaurar e a partir de quais valores. O caso do fogo é exemplar. Durante décadas, as políticas ambientais adotaram o paradigma do “fogo zero”, suprimindo saberes tradicionais que usavam a queima controlada como ferramenta agrícola, extrativista e cosmológica. Hoje, com o reconhecimento de que certos ecossistemas — como o Cerrado — dependem do fogo, esse debate retorna com força. “Quando a gente entende hoje que o manejo do fogo não é apenas uma política de preservação e combate aos incêndios florestais, mas é também uma política de restauração de uma diversidade de regimes de fogo, a questão se coloca: qual regime de fogo se pretende restaurar hoje?”, questiona o professor. A resposta define não apenas a técnica, mas também o projeto de mundo que se deseja sustentar.
Para o professor, esse entendimento é o primeiro passo em direção a uma restauração ambiental que não reproduza a histórica exclusão dessas populações. Contudo, ele aponta que não basta absorver sua história, mas é necessário incluir essas comunidades no planejamento dos processos ambientais: “Uma política de restauração que se pretenda não colonialista precisa descentrar os valores do ambientalismo moderno como sendo os únicos possíveis que possam informar uma política de restauração”.
Paradigmas ambientalistas
Nesse sentido, se torna necessário entender as diferenças entre as linhas de pensamento que historicamente dominaram o ambientalismo e as técnicas históricas adotadas pelos povos originários. Fagundes começa explicando o cenário do debate durante o século 20, quando dominava o paradigma preservacionista: “Uma imagem de natureza intocada, que deveria ser preservada fora do acesso, fora da interação com grupos humanos. Essa é uma ideologia ambientalista de matriz norte-americana, e que foi exportada pelo ocidente colonizado”. O conflito, assim, fica evidente. A ideologia, ao negar a possibilidade de coexistência não predatória entre a humanidade e a natureza, negava toda a história dos povos indígenas.
Esse modelo, segundo Fagundes, teve seu auge até o início do século 21 e passou a ser tensionado pelo socioambientalismo, que propôs uma aliança entre conservação da biodiversidade e lutas por justiça social — como exemplificado pelo movimento dos povos da floresta no Acre. Surge então o conservacionismo que, embora ainda orientado por uma lógica de gestão da biodiversidade, admite a presença de comunidades tradicionais e incorpora mecanismos de mercado, como os serviços ecossistêmicos.
Mais recentemente, a restauração ambiental se apresenta como uma terceira via, superando tanto o exclusivismo do preservacionismo quanto os limites do conservacionismo. “Existe um modelo mercadológico da restauração ambiental, mas existem também iniciativas que buscam conjugar as oportunidades econômicas com o modo como essas comunidades tradicionais também podem se articular com essas iniciativas, que pode, de alguma maneira, gerar fontes de renda sustentáveis, ou seja, cíclicas, para esses povos e comunidades tradicionais.” Nesse novo cenário, o desafio não é apenas ecológico, mas político: reconhecer que não há uma única ideia de natureza, e sim múltiplas cosmologias em disputa sobre o que deve ser restaurado — e por quem.
Reconfiguração dos paradigmas
Nesse sentido, a restauração ambiental não confronta apenas a racionalidade neoliberal, que transforma a natureza em ativo econômico, mas também põe em xeque outras visões modernas de produção, mesmo aquelas oriundas de campos progressistas. Como explica Fagundes, muitas leituras críticas da modernidade ainda operam a partir de uma ideia única de história, orientada pelo paradigma do trabalho e pela figura do indivíduo racional e produtivo. Isso vale tanto para a lógica do homo economicus, que fundamenta a economia de mercado, quanto para algumas concepções socialistas-produtivistas de transformação da natureza, ambas baseadas na ideia de domínio técnico e finalístico sobre o ambiente.
Ao reconhecer que os povos indígenas e quilombolas produziram a biodiversidade brasileira por meio de formas de vida não orientadas por metas de eficiência ou lucro, a restauração decolonial rompe com esses dois pilares. “A restauração que se coloca no horizonte decolonial tensiona esses dois grandes paradigmas que informam muitas vezes o debate público, ambos calcados numa imagem moderna de indivíduo e numa lógica moderna também de produção”, afirma o professor. Nesse enquadramento, restaurar não é voltar a um estado anterior da natureza, mas reconfigurar as próprias bases do que se entende por produção, técnica e futuro.
Os conflitos
Assim a contradição se explicita. O mesmo modo de vida indígena que criou os biomas brasileiros é, hoje, tensionado pelas dinâmicas do mercado verde. Por isso, a restauração ambiental escancara uma dicotomia: de um lado, a racionalidade mercadológica, que transforma a natureza em ativo e valoriza práticas orientadas pela eficiência e pela compensação; de outro, os saberes tradicionais, cujas formas de relação com o território produziram a própria biodiversidade que hoje se busca recuperar. Ignorar essa tensão, como aponta Fagundes, é bloquear o reconhecimento do papel histórico desses povos e adiar a reparação que lhes é devida.
“Há uma série de possibilidades de compatibilização entre essas duas iniciativas, mas o que a gente vê na prática são muitos conflitos, justamente porque as racionalidades que orientam o modo como povos e comunidades tradicionais não apenas preservam, conservam, mas produzem e podem até mesmo restaurar essa diversidade biológica, não são dependentes de uma concepção de indivíduo moderno que pauta suas ações baseado na otimização de lucros e, necessariamente, de uma diminuição do tempo de espera, dos tempos que não são próprios aos humanos, os tempos da natureza”, explica.
Restauração ambiental e reparação histórica
Por isso, Fagundes defende que restauração ambiental e reparação histórica precisam caminhar juntas. Não é possível recuperar a biodiversidade sem garantir os territórios e os modos de vida que a geraram. Uma restauração que ignore esse aspecto apenas repete as lógicas coloniais — agora em nome da sustentabilidade. “A gente precisaria rever o fato de que a conexão entre restauração ambiental e reparação histórica seriam duas faces de uma mesma moeda, de uma nova agenda de restauração que, de alguma maneira, não apenas reproduza uma lógica modernizante e colonial, de homogeneização dos saberes, técnicas e modos de vida. A gente compreende que uma restauração que se coloque de maneira refratária a essas frentes de modernização colonialista, ela precisa levar em consideração o fato de que, sem territorialidades tradicionais, não há saberes e técnicas tradicionais também.”
Mais do que reconhecer a biodiversidade é necessário reconhecer a tecnodiversidade que a tornou possível. A floresta, como destaca o professor Fagundes, não é um espaço intocado, mas um território manejado historicamente por práticas sofisticadas de jardinagem agroflorestal. Técnicas que articulam espécies domesticadas e silvestres, como demonstram os sistemas de cultivo da mandioca, as terras pretas de índio e os regimes tradicionais de uso do fogo. Esses saberes acumulados revelam modos de produção profundamente enraizados nos ciclos ecológicos e nas especificidades de cada território.
Ele finaliza apontando as condições únicas proporcionadas por esse debate: “O nosso desafio e nossa oportunidade hoje é olhar para essa diversidade indígena quilombola presente no território nacional, justamente como uma matriz superdiversa em termos de modos de produção que fornece ao país, ao Brasil, justamente a possibilidade de inovações absolutamente originais no que diz respeito a esse modo de relação com o ambiente”.
Este texto foi originalmente publicado pelo Jornal da USP, de acordo com a licença CC BY-SA 4.0. Este artigo não necessariamente representa a opinião do Portal eCycle.