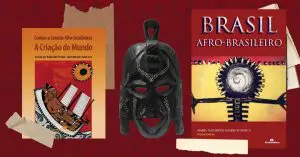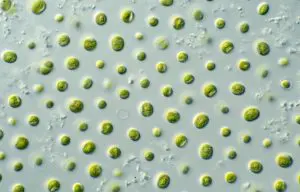Uma das principais liderança jovens de Rondônia, Txai falou sobre a mobilização da juventude indígena no Estado e a importância das eleições de 2022 para preservar a floresta

Por Laura Scofield em Agência Público – Txai é um apelido para Walelasoetxeige, nome que significa “mulher inteligente” em Tupi Mondé, a língua falada pelo povo Paiter Suruí, que vive em Rondônia. Filha de duas lideranças históricas de seu estado — o cacique Almir Suruí e a ativista Ivaneide Bandeira, fundadora da organização de defesa etnoambiental Kanindé —, a jovem ativista se destacou no ano passado ao discursar na 26º Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 26), que aconteceu em Glasgow, na Escócia. Além de representar os povos brasileiros em eventos nacionais e internacionais, Txai hoje coordena o movimento da juventude em defesa dos direitos dos povos tradicionais em seu estado.
“Quando a gente fala em destruição e desmatamento da Amazônia, as pessoas acham que só estão cortando árvores, só estão botando fogo na Amazônia, e elas não se dão conta de que quando a gente vai fazer o nosso monitoramento para a defesa do nosso territórios, as nossas vidas estão em risco”, afirmou em entrevista à Agência Pública, dias depois do 18° Acampamento Terra Livre, que reuniu cerca de 8 mil de indígenas em Brasília. “A gente não só está fazendo essa proteção, a gente está fazendo essa proteção com nossas vidas.”
Mesmo já tendo ido três vezes a Brasília com o movimento indígena, esse foi o primeiro ATL que a jovem liderança acompanhou. Txai Suruí esteve presente na primeira semana da mobilização, junto à delegação de Rondônia e à Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (Coiab). Com agenda apertada, participou de plenárias no local e reuniões no Senado e no domingo (10) voou para São Paulo, para participar da primeira exibição brasileira do filme ‘O Território’, que conta a história de luta do povo rondoniense Uru-Eu-Wau-Wau na defesa de seus territórios contra posseiros, desmatadores e agricultores. Da capital paulista voou para a Holanda para levar o filme para outro festival, o holandês Movies That Matter [do inglês, Filmes que importam, em tradução livre], que promove obras que abordam os direitos humanos. Retornou na última semana a Porto Velho, onde mora, direto para o trabalho.
Txai Suruí foi a primeira de seu povo a cursar direito na Universidade Federal de Rondônia e, além de atuar na ONG Kanindé, que hoje atende 21 povos no estado, ajudou a criar seu próprio movimento para organizar os jovens indígenas rondonienses que trabalhavam cada qual em seu território. “Se está todo mundo fazendo a mesma coisa e junto a gente é muito mais forte, por que a gente ainda não está organizado?”, foi a pergunta que fundou a Juventude Indígena de Rondônia, que tem representantes em 12 povos.
“Querendo ou não a gente vive em um outro tempo, e hoje o nosso tempo é um tempo muito jovem. É um tempo muito tecnológico, muito rápido, que é uma coisa muito diferente do que os nossos mais velhos viveram, principalmente de alguns povos daqui”. A ativista também é conselheira da WWF Brasil e voluntária do Engajamundo, ONGs que abordam questões climáticas, ambientais e sociais.
Txai conta que a Juventude Indígena também está empenhada em aumentar a representatividade indígena no Congresso e em parceria com o Tribunal Regional Eleitoral e a Universidade Federal de Rondônia tem se mobilizado para regularizar os documentos de seus povos a tempo da eleição. Isso inclui um esforço para levar as urnas para as aldeias. “O mundo inteiro está falando que o mundo está acabando, é literalmente isso que está acontecendo e já tem pessoas morrendo por isso, inclusive os povos indígenas. Para mudar isso, a gente tem que mudar o nosso Congresso também.”
Leia a entrevista com Txai Suruí na íntegra:
É muito difícil falar sobre quando começou essa trajetória, porque eu venho seguindo muito a trajetória dos meus pais, que também são dois ativistas de direitos humanos, meio ambiente e direito dos povos indígenas. Quando eles foram perseguidos, ameaçados, e a gente teve que ser escoltado pela Força Nacional, eu vivi isso e meus irmãos viveram isso.
Mas existem historinhas [sobre o meu ativismo] que minha mãe e meu pai sempre contam: a minha mãe conta que a gente estava em um protesto e eu sumi, eu tinha cinco anos, e quando ela me achou eu estava com o microfone na mão segurando a mão de um político, algum político do Partido Verde, pedindo pelos direitos das crianças. Ainda quando eu era pequenininha, tem uma história também com meu pai e com meu avô, que eu tava na aldeia na linha 12 — as aldeias se organizam em linhas — e todos os representantes do meu povo estavam nessa aldeia para alguma comemoração lá, e aí o meu avô e meu pai me colocaram em cima de um tronquinho e disseram que eu era “labiway”, o que significa líder na língua do meu povo. Eu sempre fui muito ligada às organizações, quando eu estava na faculdade eu fazia parte do centro acadêmico, fui a primeira presidente indígena do centro acadêmico de Direito da UNIR [Universidade Federal de Rondônia], mas passei a me declarar ativista em 2018, quando eu começo a trabalhar na Canindé, que é uma organização que foi fundada pela minha mãe para trabalhar com povo Uru-Eu-Wau-Wau. Essa questão de ativismo é uma coisa que está na minha família desde sempre e a gente sempre esteve ligado nisso, mesmo pequenininhos.
Quando você decidiu fundar a Juventude Indígena de Rondônia?
Foi durante a pandemia, em 2020. A gente fundou o movimento na internet mesmo, pelo WhatsApp, pelas mídias sociais, e foi com o intuito de organizar os jovens líderes que a gente já via dentro dos territórios se articulando e trabalhando na luta. Só que eu via isso e pensava “‘tá todo mundo fazendo a mesma coisa e junto a gente é muito mais forte, por que a gente ainda não está organizado?”. E aí veio a ideia da gente se organizar e se articular como jovem para fortalecer o próprio movimento indígena aqui do Estado. Hoje eu digo com certeza que as organizações indígenas mais fortes do meu estado são o movimento da juventude e a associação de mulheres.
O grupo da juventude tem alguma pauta principal?
[O objetivo principal] era unir todas essas lideranças jovens, porque o que a juventude sofre é o que o território inteiro sofre. O que uma mulher indígena passa é o que o território dela está passando também, e o que os jovens indígenas passam também é o que o território está passando. A gente também traz outras pautas mais jovens, como educação. Falamos muito da importância da formação, não só formação profissional dentro da universidade, mas formação política dos jovens e a importância de formar os jovens politicamente para estarem engajados na defesa dos seus direitos. A gente traz as pautas que são comuns, de território, do que a gente está passando, de saúde, de educação, mas principalmente tentando trazer um olhar jovem sobre a coisa, um olhar diferenciado. Uma coisa é como o jovem está passando por aquilo, como ele vê aquilo, e como os outros, os mais velhos, veem o que eles estão passando. Querendo ou não a gente vive em um outro tempo, e hoje o nosso tempo é um tempo muito jovem. É um tempo muito tecnológico, muito rápido, que é uma coisa muito diferente do que os nossos mais velhos viveram ou viviam, principalmente de alguns povos daqui.
Por exemplo, o próprio [povo] Uru-Eu-Wau-Wau tem 30 anos de contato [com a sociedade nacional]. Trinta anos de contato é ontem. O próprio Suruí, que tem 50 anos de contato, ainda é muito pouco tempo. Têm mais velhos nossos que não falam português. Tudo isso traz a juventude mais para essa luta também. Meu pai fala para mim que o meu filho, o próximo depois de mim, a próxima geração, vai saber mais do que eu, como ele sabe mais do que o pai dele. A gente como jovem consegue se apoderar dessas novas pautas, que são as mídias sociais, que é a comunicação, que hoje são armas mesmo para a gente denunciar e para gente fazer a própria preservação da nossa cultura.
Ao contrário de outras comunidades, onde os idosos são desvalorizados por não terem valor no sistema de produção, os anciões são muito importantes para os povos indígenas, já que carregam conhecimentos e sabedoria. Ao mesmo tempo, estão surgindo jovens lideranças indígenas, que estão ganhando destaque nacional e internacionalmente. De que forma uma jovem liderança indígena, como você, dialogou com os anciões e representantes tradicionais de sua comunidade para assumir esse protagonismo sem desrespeitar os mais velhos? Como funciona esse diálogo e esse processo?
Ainda existe [diálogo], é uma coisa que a gente está conquistando como juventude. Durante muito tempo a gente teve que ganhar a confiança dos mais velhos e das lideranças tradicionais, porque tinha essa coisa do “ai, mas você é muito jovem, você não viveu o que eu vivi, você não sabe como era antes”. Quando a gente é jovem muitas vezes ainda há um receio, e isso acontecia com a gente.
Como movimento da juventude, a gente era muito criticado, [como se] os jovens só quisessem se divertir. Foi um processo muito de tomada de confiança, de mostrar para eles o nosso trabalho, de mostrar o que a gente estava fazendo como movimento, o que a gente estava articulando como juventude, e que nunca foi uma questão de tomar o lugar de ninguém. Nunca foi algo assim, mas sempre de somar junto, somar às lideranças tradicionais, somar a quem já está aí na luta, até porque a gente sabe que essas pessoas vieram antes da gente e que, se não fossem elas, a gente não ia estar onde a gente está hoje. Não ia ter conquistado o que a gente conquistou.
Hoje eles confiam muito mais na gente, e os jovens que fazem parte da juventude também estão em outras organizações. Não é que a gente esteja criando lideranças ou engajando outras pessoas, os jovens já estavam fazendo esse trabalho [antes da criação do grupo]. A maioria está nas associações dos seus povos ou faz parte das associações indígenas do Estado, então a gente consegue dialogar [com as lideranças tradicionais] dessa forma, já estando nas organizações e sempre conversando como juventude. Sempre quando tem alguma coisa, a juventude se coloca à disposição para ajudar, para construir junto mesmo. Hoje é engraçado, hoje eles vêm atrás da gente e [perguntam:] “Será que a juventude pode ajudar nisso?” Tudo foi uma construção e estamos construindo ainda.
Estamos em ano de eleição e lá no ATL existia uma tenda para que as pessoas tirassem o título de eleitor e um processo em curso para levar isso para as aldeias. Vocês estão com algum movimento do tipo?
A gente vem fazendo esse trabalho local também. Assim que a gente chegou do ATL, os jovens já ficaram aqui [em Rondônia], porque eles vão fazer um curso do TRE-RO [Tribunal Regional Eleitoral] para um projeto nosso em parceria com a universidade federal [UNIR] sobre a regularização dos documentos e do título [de eleitor] dentro dos territórios. Os jovens vão fazer o curso e vão se formar para fazer essa regularização dentro das terras deles.
A nossa ideia inicial era levar os indígenas para o TRE para fazer essa regularização dos títulos e [depois] levar as urnas para os territórios. Uma das coisas que a gente conseguiu analisar é que dentro do territórios, a gente tinha muito voto em branco, porque muitos dos mais velhos não sabem falar português e o voto é secreto, então você tem que ir sozinho, mas eles não sabem como fazer e acabam votando errado. E leva quase dois dias para sair de alguns territórios, tem que pegar estrada e ainda tem que pegar barco, aí você imagina [como é difícil] deslocar essas pessoas para votar. Muitas vezes a gente sequer tem condições de fazer isso, porque hoje a gasolina tá quase R$ 10 aqui. Imagina você tirar todo mundo da aldeia para ir votar lá, então a nossa ideia era levar também as urnas, não sei se a gente vai conseguir esse ano, mas pelo menos a gente vai começar esse trabalho dos próprios jovens indígenas voltarem para as aldeias e fazerem essa regularização do título e dos documentos do restante da comunidade.
A gente tem outros projetos voltados para as eleições também, a gente está criando uma carta de compromisso não só para os candidatos indígenas, mas também para outros pré-candidatos que sejam a favor da pauta ambiental e climática para que eles realmente se comprometam a não estarem colocando projetos de lei como esses que a gente está vendo aí, da mineração [PL 191] e o PL 490.
Passando para a sua atuação na área da emergência climática. Quando você se aproximou da temática?
Acho que a questão climática para mim surgiu na COP [25]. Ano passado eu falei na COP 26, mas eu já tinha ido na passada, que era do Chile, mas na verdade aconteceu em Madri. A gente sempre falou de território, do que está acontecendo na Amazônia, do que está acontecendo aqui em Rondônia e das invasões, além da própria sabedoria dos povos indígenas em relação à destruição da nossa floresta e a nossa própria cosmovisão de mundo. A gente fala disso há anos, mas fazer essa conexão entre a luta dos povos indígenas e mudanças climáticas só aconteceu quando eu fui para COP.
A primeira vez que eu fui para a COP foi a convite da APIB [Associação dos Povos Indígenas do Brasil] para representar a juventude e lá eu tive a oportunidade de falar em uma mesa que foi organizada pelo próprio Engajamundo , que eu não fazia parte ainda, e ali eu me dei conta de que aquilo que eu estava levando, que na verdade eram coisas que acontecem localmente, sobre a minha realidade e a realidade dos povos indígenas do Brasil, na verdade estava ligado ao que estava acontecendo lá fora. Está tudo conectado, e a partir daquele momento eu mudo meu discurso para dizer: “olha, o trabalho que a gente está fazendo, a luta que a gente vem travando dentro do território também deveria ser uma luta de vocês. Vocês aqui nos outros países, nos outros lugares, deveriam estar olhando para os povos indígenas, vocês deveriam estar olhando para as pessoas que vivem na floresta, porque não adianta nada a gente salvar as árvores se a gente não salva quem está salvando as árvores”. A minha pauta com mudanças climáticas começa aí, vira a chavinha mesmo, e eu começo a me aprofundar nos assuntos e a estudar um pouco mais.
No seu discurso na última COP você falou que os povos indígenas estão na linha de frente da emergência climática. O que você queria dizer com isso?
Eu sou uma mulher amazônica, eu sou de Rondônia, da Amazônia brasileira, e hoje a gente sabe a importância da Amazônia na questão climática, quando a gente vai falar de mudança climática. Tanto que a gente chama a Amazônia do ar condicionado do mundo, que vem fazendo esse equilíbrio climático do planeta. Hoje com o último relatório do IPCC, a gente sabe inclusive que a Amazônia está perdendo esse poder de reter o carbono mesmo. Se a gente pega qualquer mapa hoje, a gente vê que a floresta em pé é onde há a presença dos povos indígenas, onde há territórios indígenas, sejam eles demarcados ou não. A floresta é importante para o mundo e para [barrar] as mudanças climáticas, e hoje [mesmo] com todos esses ataques, os territórios indígenas protegem mais do que as unidades de conservação, que é onde não tem ninguém. Por isso que eu falo que a gente está na linha de frente.
Outra coisa que eu percebi é que quando a gente fala em destruição e desmatamento da Amazônia, as pessoas acham que só estão cortando árvores, só estão botando fogo na Amazônia e elas não se dão conta, por exemplo, de que quando a gente vai fazer o nosso monitoramento para as pessoas do nosso territórios, as nossas vidas estão em risco. Antes da queimada e do desmatamento vem a invasão e muitas vezes essas invasões e ameaças acontecem perto, tem invasão que é 3 km da aldeia. Você está em casa e escuta motosserra do lado da sua casa. Não é que estão queimando a Amazônia só, estão queimando a Amazônia e estão queimando as pessoas que estão lá também. E quem está fazendo esse trabalho de proteger a floresta? De não permitir que ela seja ainda mais destruída, ainda mais desmatada? São os povos originários, são as pessoas que vivem na floresta. Por isso que a gente está nessa linha de frente, porque a gente não só está fazendo essa proteção, mas a gente está fazendo essa proteção com nossas vidas.
Como os conhecimentos indígenas podem auxiliar no combate à crise climática? Pode dar exemplos a partir do seu povo?
Essas ideias já existem e inclusive já estão sendo executadas há muito tempo. O meu povo, o povo Paiter Suruí, trabalha com reflorestamento, porque no ponto que a gente se encontra hoje, já não basta mais só a gente proteger a floresta. A gente está num ponto que a gente tem que devolver para ela aquilo que a gente tirou dela. A gente trabalha com monitoramento, o meu povo faz o biomonitoramento, que além de monitorar o nosso território, a gente faz análise da nossa fauna, que vai inclusive nos mostrar como que a gente está sendo afetado pela crise climática, porque a gente vê os animais desaparecendo, a gente vê o desequilíbrio ecológico dentro do nosso território. Ou seja, a gente tá plantando e a gente está protegendo a floresta.
Agora a gente está trabalhando com etnoturismo e com café de forma sustentável para mostrar como que a gente consegue criar trabalhos sustentáveis, onde você não precisa destruir a floresta, e ainda valorizar a beleza do que tem aqui, valorizar a nossa floresta, a nossa cultura, porque a gente ainda precisa muito aprender a valorizar os povos indígenas aqui no Brasil. E a gente ainda consegue lucrar com isso, gerar renda a partir disso, e não só para as comunidades indígenas, mas também para quem está de fora. A gente faz um café agroecológico, sem veneno, pensando no fortalecimento da comunidade e das nossas associações. O projeto do reflorestamento existe desde 2005, e depois começamos a trabalhar com mercado de carbono, coisa que as pessoas vão falar só agora. A gente está falando isso e prevendo isso há muito tempo. E isso é dentro da minha terra, imagina dentro dos outros territórios que existem, só em Rondônia existem 52 povos indígenas, então imagina as várias outras soluções que existem e que eu não conheço.
Por vezes os negacionistas climáticos colocam como se a intenção do movimento ambientalista e climático fosse ‘acabar com o desenvolvimento do Brasil, em uma oposição entre ‘produção’ e ‘sustentabilidade’. Isso faz sentido?
Foi construída uma narrativa onde os povos indígenas são inimigos do desenvolvimento, são inimigos do chamado progresso. Mas que progresso é esse onde no Brasil a desigualdade está crescendo? Cada vez mais pessoas passando fome, cada vez mais direitos humanos sendo feridos, sendo desrespeitados. Existem 1001 soluções dentro dos territórios indígenas e que mostram que é uma falácia que os povos indígenas só querem atrasar o Brasil. Na verdade, o que eu escuto desde sempre do pai e de outras lideranças é que o que os povos indígenas querem é qualidade de vida para todo mundo, não só dentro dos nossos territórios, mas para todos. E aí gente mostra como é possível sim através dessa soluções, a gente pensar por exemplo no tripé da sustentabilidade, que é pensar no ambiental, sem destruir o meio ambiente, no econômico, conseguindo sim gerar recursos, conseguindo gerar renda para aquelas comunidades e populações, e no social, pensando que não adianta nada a gente proteger o meio ambiente e lucrar esquecendo das pessoas. Fortalecer esses três pilares é possível e a gente já está fazendo isso dentro das nossas terras, é isso que a gente está tentando mostrar. A gente faz um trabalho muito de denúncia do que está acontecendo, dos ataques, das invasões, mas a gente também faz para ser propositivo, para trazer soluções, para mostrar inclusive que essas soluções não só já existem como estão sendo executadas e colocadas em prática dentro do território. O que elas precisam é só de mais apoio para que elas fiquem cada vez maiores e que atinjam cada vez mais as pessoas.
Na sua avaliação, é possível separar a luta pela defesa do meio ambiente da luta por frear a emergência climática?
Não. Eu acho que falar de clima é falar de meio ambiente, assim como falar de justiça climática é falar de pessoas, falar de uma pauta antirracista, anticapitalista, por igualdade de gênero, contra as desigualdades sociais. São coisas que a gente pode abordar separadamente, mas elas nunca se separam.
Como a gente pode tornar esse debate mais popular? Quais são as estratégias que, na sua opinião, podem ser usadas para isso?
Eu acho que essas estratégias inclusive já estão sendo colocadas em prática através do trabalho da juventude. A juventude vem facilitando, vem tornando esse debate mais acessível para que todos entendam. Não adianta nada a gente, por exemplo, ficar falando de acordo de Paris, ficar falando de NDC [Contribuições Nacionalmente Determinadas, as metas de cada país], porque as pessoas não vão entender, principalmente aquelas pessoas que precisam entender, então a gente precisa mostrar para elas trazendo para suas realidades também, mostrando como aquilo vai afetá-las. Não ficar usando esses termos técnicos, muito difíceis. Antes, quando a gente falava de crise climática, de mudança climática, todo mundo falava sobre a camada de Ozônio. Todo mundo pensava nisso. Quando na verdade é isso, mas é muito mais do que isso.
Falar de mudança climática é falar de saneamento básico, que qualquer pessoa está sujeita a essa questão, seja na cidade ou na aldeia; é falar como essa chuva e esses alagamentos bem afetando já o Brasil, como aconteceu em Minas, na Bahia, em Petrópolis, como está acontecendo aqui na aldeia, que quando chove alaga. É trazer isso para as realidades das pessoas também e também mostrar que é possível ter soluções para isso e que a gente pode construir elas juntas.
No início de 2021, você se uniu a jovens do Engajamundo e da Fridays For Future Brasil para processar o governo Bolsonaro por pedalada climática. O processo foi declinado pela primeira juíza, mas o governo voltou atrás e retornou ao entendimento anterior. Pode explicar do que se trata nas suas palavras?
A gente tem as metas que são previstas no Acordo de Paris, que cada país deve seguir para que a gente consiga alcançar 1.5 °C [máximos de aquecimento], que é o que a gente queria alcançar, e aí o Brasil muda o modo de contar a meta, o que faria com que a gente emitisse mais gases do efeito estufa do que a meta anterior. A gente ia estar emitindo mais do que grandes países, como a Espanha. E a gente nunca pode mudar a meta do Acordo de Paris para menos, ela sempre é mais vantajosa, então quando o Brasil tenta dar esse ‘jeitinho brasileiro’ de mudar a conta, ele começa a querer emitir mais também. Por isso que a gente chama de pedalada climática, porque ele tentou dar essa burlada nessa conta para poder ultrapassar a meta e mudar para uma menos vantajosa.
Eu faço parte desse caso porque sou voluntária do Engajamundo, que junto com o Fridays [for Future] e junto com o Observatório do Clima, propuseram essa ação. É muito importante nisso a gente estar incluindo pessoas indígenas, porque durante muito tempo também a própria discussão sobre meio ambiente era muito branca, eram muitos homens brancos falando de clima, falando de Meio Ambiente, e aí a gente também está numa proposta de mudar isso. E quem melhor que jovens diversos para estar propondo essas ações? Eu fui lá falar que sou eu, mulher indígena jovem que vou ser afetada principalmente por essa meta. Se a gente pega o IPCC, a gente vê que as regiões mais afetadas do Brasil estão aqui na Amazônia, que vai ter os maiores aumentos de temperatura.
Quais são os contras quando a sua imagem se torna conhecida e atrelada a essa luta contra a crise climática? Você sofreu alguns ataques ano passado pelo presidente Jair Bolsonaro e seus apoiadores. Como isso te impacta?
Impacta mais a nível local mesmo. Quando a gente estava na COP o Bolsonaro me atacou e eu recebi muitas mensagens machistas, racistas, misóginas, de ódio, e aí eles ofereceram proteção para gente, mas eu falei que ali eu não me sentia insegura, o problema é quando eu voltar para o meu território mesmo. Lá sim as coisas são muito mais perigosas. Essa visibilidade traz cada vez mais isso. Eles sabem quem está falando, eles veem o seu rostinho, então o perigo aumenta mais.
Como foi para você estar no ATL e qual é a importância desse tipo de mobilização?
Esse ano a gente conseguiu levar oito mil pessoas para o ATL. É muita gente e mostra como a gente está engajado em derrubar esses PLs da destruição e esses projetos de lei que querem acabar com as nossas vidas. Para mim foi muito legal, porque foi a primeira vez que Rondônia conseguiu levar dois ônibus, e um deles foi o ônibus da juventude, e o outro foi o ônibus levado pelas mulheres. Então até as lideranças tradicionais fomos nós que levamos. Por exemplo, a gente levou a Mandu, que é Uru-Eu-Wau-Wau, ela é a mulher mais velha do povo, ela estava na época do contato. Foi a primeira vez que ela foi para lá. Eu perguntei para ela o que ela tinha achado e ela disse que nunca tinha visto tanto Kawahiva, que na língua deles é indígena.
Foi a primeira vez que ela viu tantos povos indígenas com tantas culturas diversas juntos. A gente estava levando a pessoa mais sábia, mais vivida daquele povo. Os mais jovens ficaram muito animados, até para eles entenderem como funciona o movimento indígena. A importância é fazer pressão, a gente aproveitou que estava lá para fazer outras agendas também no Senado, na Câmara, e fazer outras conversas. É importante em todo um contexto que a gente está vivendo nesse Brasil, de ataque aos povos indígenas, da gente mostrar que a gente não vai aceitar que os nossos direitos sejam retirados desse jeito, a gente não vai aceitar a mineração desses nossos territórios, e a gente está aqui com a maior quantidade de indígenas que já trazemos aqui para Brasília para dizer que a gente não quer isso.
Neste ano eleitoral, de que forma a escolha de quem votar influencia no debate da crise climática?
Eu acho que o maior exemplo de como isso afeta tanto a questão climática quanto as nossas vidas é o que a gente está vivendo agora. Se a gente tem o PL 191, o PL 490 e outros projetos de lei e destruição, que querem inclusive permitir agrotóxicos na nossa mesa, é porque tem alguém lutando por isso lá no Congresso. Se não tivesse ninguém para votar, para colocar essas pautas, a gente não estaria passando pelo maior processo de destruição que o meio ambiente vem sofrendo no Brasil, e de maior ataque aos povos indígenas também. A gente não estaria passando por isso. É por isso a importância da gente ter representatividade, mas não representatividade vazia – igual o [vice-presidente Hamilton] Mourão, que fala que é indígena – é ter representatividade de verdade, de mulheres indígenas, de quem está no território, de quem está lutando, porque a gente nunca vai conseguir realmente ter soluções diferentes, ter uma política ambiental diferente, enquanto a gente tiver as mesmas pessoas decidindo por isso. E pessoas que são ligadas principalmente ao agronegócio, às grandes empresas, e não à necessidade real do povo brasileiro. A pauta ambiental deveria ser uma pauta suprapartidária, não deveria ser uma agenda de um governo, de um candidato específico. O mundo inteiro está falando que o mundo está acabando, é literalmente isso que está acontecendo e já tem pessoas morrendo por isso, inclusive os povos indígenas. Para gente mudar isso a gente tem que mudar o nosso Congresso também.
Este texto foi originalmente publicado por Agência Pública de acordo com a licença Creative Commons CC-BY-NC-ND. Leia o original.