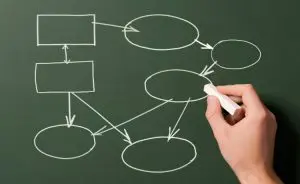Mongabay publica entrevista com John Hemming, que passou 60 anos documentando povos indígenas na Amazônia
Resumo
- John Hemming passou as últimas seis décadas documentando a história das culturas indígenas e da exploração na Amazônia. Visitou 45 tribos, esteve junto a etnógrafos brasileiros na época dos primeiros contatos e escreveu uma dúzia de livros sobre o tema.
- Em seu último livro, Hemming conta a história dos irmãos Villa-Bôas, que conheceu nos anos 1960, e de como ajudaram a criar o Parque Indígena do Xingu.
- Nesta entrevista ao fundador da Mongabay, John Hemming relembra momentos marcantes de sua trajetória e oferece sua visão sobre o futuro da Amazônia – incluindo os riscos de um governo autoritário no controle da floresta.
- “Bolsonaro afirma ser um cristão temente a Deus. Mas ele não tem escrúpulos em destruir as vidas e habitats de milhões de criaturas que seu Deus colocou em nosso planeta”, diz Hemming.
No início de setembro, Rieli Franciscato, indigenista da Funai, morreu com uma flechada no peito próximo à Terra Indígena Uru-Eu-Wau-Wau, em Rondônia. Franciscato era um dos maiores especialistas em indígenas isolados no Brasil — até ser morto por um deles. A morte do sertanista provocou comoção em toda a comunidade ligada à proteção dos indígenas, mas abalou particularmente John Hemming, historiador canadense que passou as últimas seis décadas documentando a história das culturas indígenas amazônicas.
Em sua primeira expedição à Amazônia, feita em 1961 para mapear o Rio Iriri, no Pará, Hemming perdera um de seus melhores amigos — também morto por um grupo de indígenas isolados. Richard Mason fora emboscado a poucos quilômetros do acampamento da expedição por caçadores de um grupo que, contatado doze anos depois, descobriu-se que eram os Panará.
Apesar do início adverso, Hemming seguiu trabalhando nas partes mais remotas da Amazônia. Visitou 45 tribos e esteve presente com etnógrafos brasileiros em diversos primeiros contatos, quando membros das tribos Suruí, Parakanã, Asurini e Nambikwara tiveram as primeiras interações registradas com pessoas de fora. Ao longo de sua carreira, Hemming escreveu mais de duas dúzias de livros, desde a história definitiva da ocupação do Peru pelos conquistadores espanhóis até uma trilogia sobre o genocídio dos indígenas brasileiros que soma mais de 2 mil páginas, iniciada com Ouro Vermelho. Seu livro Árvore de Rios é tido como uma das mais robustas visões da história amazônica.
O último livro de Hemming, People of the Rainforest: The Villas Boas Brothers, Explorers and Humanitarians of the Amazon (Povos da Floresta Tropical: Os Irmãos Villas-Bôas, Exploradores e Humanitários da Amazônia, em tradução livre), conta a história dos três irmãos indigenistas— Orlando, Cláudio e Leonardo — que, nos anos 1940, estiveram entre os pioneiros do movimento pela proteção da Floresta Amazônica e pelo reconhecimento dos direitos de seus povos — iniciativa que culminou com a criação do Parque Indígena do Xingu, em 1961.
Além de seus muitos livros, Hemming tem como legado um trabalho incansável como ativista da causa indígena. Foi um dos fundadores, por exemplo, da Survival International, ONG de defesa dos direitos indígenas que celebrou seu aniversário de 50 anos no ano passado. Hemming também dirigiu a Royal Geographical Society por 21 anos, revitalizando a instituição e permitindo-lhe lançar uma série de expedições e projetos de pesquisa em todo o mundo, e ainda atuou no conselho de várias instituições de caridade, incluindo Earthwatch, The Rainforest Foundation e The British Council.
Nesta entrevista ao fundador da Mongabay, Rhett A. Butler, John Hemming relembra momentos marcantes de sua trajetória e oferece sua visão sobre o futuro da Amazônia.
O que despertou seu interesse pela Amazônia?
Em 1961, muito antes do GPS via satélite e logo depois de deixar Oxford, meu melhor amigo Richard Mason teve a ideia de fazer a primeira descida de mapeamento do Rio Iriri, na região central do Brasil, um dos maiores rios inexplorados do mundo. Nosso plano foi bem recebido pela autoridade cartográfica brasileira, o IBGE, que enviou três de seus topógrafos conosco, e pela Força Aérea Brasileira (FAB). Foi quando conheci Orlando Villas-Bôas, grande especialista em indígenas, que nos disse não ter conhecimento de nenhum povo da floresta naquela área que pudesse representar uma ameaça.
Ao longo de três ou quatro meses, abrimos trilhas a partir da pista de pouso de Cachimbo e encontramos o que calculávamos ser a cabeceira do Iriri. Foi quando Richard Mason caiu em uma boa emboscada a poucos quilômetros do nosso acampamento. Encontramos seu corpo caído na trilha, cercado por flechas e porretes. Richard teve o azar de ter sido o primeiro dos onze homens da expedição a cair na emboscada, poderia ter sido qualquer um de nós. As pessoas que o emboscaram, desconhecidas até mesmo para Orlando, foram posteriormente descobertas como os Panará, finalmente contatados em 1973 pelos irmãos Villas-Bôas após duas árduas expedições. Estive com os Panará em 1998 e conversamos sobre a emboscada, que foi um grande acontecimento na história deles, a primeira vez que viram roupas, metal ou qualquer estranho.
Você foi cofundador da Survival International há mais de 50 anos. Como isso aconteceu?
Em 1967 a 1968, o governo militar brasileiro publicou o Relatório Figueiredo sobre as deficiências do moribundo Serviço de Proteção ao Índio (SPI). Acho que isso foi feito para desacreditar o governo de João Goulart, derrubado em 1964, embora todos os crimes contra os indígenas descritos no relatório tivessem ocorrido antes de seu governo. O tiro, porém, saiu pela culatra: a imprensa mundial passou a fazer ataques violentos ao Brasil, culminando no explosivo artigo “Genocídio”, de Norman Lewis, publicado no Sunday Times. Isso inspirou quatro de nós: os antropólogos Francis Huxley e Nico Guppy (ambos mortos), outro grande amigo de Oxford, Robin Hanbury-Tenison, e eu a lançar uma instituição de caridade especificamente para os povos indígenas. A Survival International procura ajudar essas minorias em todo o mundo, mas sua principal inspiração foi o Brasil e a obra dos Villas-Bôas.
Após um início instável, a Survival cresceu em estatura e alcance e fez sua parte para ajudar as minorias indígenas ameaçadas em todos os lugares. Tivemos orgulho de comemorar seu 50º aniversário com uma recepção no ano passado, antes do período de confinamento da covid-19.
Você teve uma carreira impressionante como autor, historiador, pesquisador e explorador, inclusive como diretor da Royal Geographical Society. Quais são seus projetos atuais?
Meu doutorado em Oxford foi em História. Eu havia passado um ano viajando por todo o Peru, antes da expedição do Iriri, então decidi escrever o que se tornou The Conquest of the Incas (A Conquista dos Incas, em tradução livre), um livro que foi impresso há 50 anos e acaba de ter mais uma edição em espanhol. Depois da expedição do Iriri, decidi escrever sobre a conquista da porção oriental da América do Sul, por isso passei o início dos anos 1970 voltando ao Brasil. Tive a sorte de obter permissão para visitar cerca de 45 povos indígenas em todo esse enorme país, incluindo quatro na época do primeiro contato por sertanistas da Funai: Suruí, Parakanã, Asurini e Galera Nambikwara. Mas a “conquista” da metade brasileira da América do Sul ainda está em andamento. Portanto, essa história se transformou em três grandes volumes, totalizando 2.160 páginas: Ouro Vermelho (cobrindo de 1500 a 1760), Fronteira Amazôncia (de 1760 a 1910) e Die If You Must (Morra se Precisar, em tradução livre, ainda não lançado no Brasil), que cobre de 1910 a 2000.
Fui diretor da Royal Geographical Society por 21 anos, de 1975 a 1996. Essas foram décadas em que o mundo estava se tornando apaixonado pelo meio ambiente, então fui capaz de modernizar e melhorar aquela venerável sociedade em todos os sentidos — finanças, sócios, atividades, pesquisa, treinamento e suporte para expedições, alcance público e juvenil e geografia acadêmica.
Estou particularmente orgulhoso de onze projetos de pesquisa multidisciplinar que a Royal Geographical Society organizou durante aqueles anos, cada um em resposta a um convite do país anfitrião. Eu mesmo liderei um deles, o Projeto Floresta Tropical de Maracá, no norte do Brasil, em 1987 a 1988. Este se tornou o maior esforço de pesquisa da Foresta Amazônica já organizado pelos europeus. Envolveu cerca de 150 cientistas em nível de doutorado e 50 técnicos especialistas florestais. Foi uma parceria entre a RGS, o Instituto de Pesquisas da Amazônia (Inpa) e a Sema (Secretaria do Meio Ambiente, precursora do Ibama). A maior parte dos pesquisadores era brasileira.
O projeto fez um trabalho considerável na regeneração da floresta naquela área e rendeu estudos sobre ciclo hidrológico, insetos vetores de doenças, desenvolvimento humano na borda da floresta e um inventário da flora e da fauna da Ilha de Maracá, no Rio Uraricoera. Foram 12 livros, cerca de 120 artigos, quase 200 espécies novas para a ciência e uma maior compreensão de como as florestas tropicais funcionavam. E este foi provavelmente o único projeto a ser apresentado no programa de TV mais popular do Brasil, o Fantástico. O Brasil me concedeu a ordem do Cruzeiro do Sul por liderar tudo isso.
Por que você escolheu escrever sobre os irmãos Villas-Bôas em seu último livro? O que podemos aprender com sua história?
A história dos Villas-Bôas foi única. Não consigo pensar em nada comparável, e é algo que certamente nunca mais acontecerá de novo. Nos anos 1940, esses três jovens irmãos, de uma família rica de São Paulo, lideraram um grande esforço para abrir trilhas nas florestas brasileiras, em vez de explorá-las pelo rio [a Expedição Roncador-Xingu]. Essa difícil expedição de 18 meses terminou no Alto Rio Xingu, onde uma dúzia de magníficas tribos sobreviveram praticamente não contatadas.
Depois de mais alguns anos de exploração, os irmãos passaram a devotar suas vidas a esses povos indígenas. A expedição abriu espaço para uma série de pistas de pouso em todo o coração do Brasil, para que a Força Aérea Brasileira pudesse executar voos semanais com um Dakota C47. Isso permitiu que antropólogos, jornalistas e alguns políticos convidados pudessem visitar o Xingu, aumentando a visibilidade dos indígenas na mídia.
Os Villas-Bôas criaram instintivamente um novo modus operandi, agindo como parceiros, amigos e iguais dos povos indígena, em vez de comissários coloniais representando o governo. Eles perceberam que a mudança era inevitável, mas se comprometeram a introduzir as novidades aos poucos, na velocidade que os índios desejassem. Portanto, sua realização notável foi trazer essas belas e antigas sociedades de caçadores-coletores à consciência do Brasil moderno, sem perder o orgulho de um modo de vida tradicional comunitário, e em apenas duas gerações. A maioria dos jovens xinguanos e outros povos indígenas agora têm presença na mídia social e sabem o que a sociedade moderna tem a oferecer.
Os irmãos Villas-Bôas também trouxeram uma “Pax Xinguana” para aqueles povos da floresta em guerra, persuadindo-os de que sua maior luta era contra o avanço da fronteira agrícola. Esses anos de explorações e contatos fazem Indiana Jones parecer um passeio no parque. Eu sei, porque eu mesmo atravessei um pouco dessas florestas inexploradas. Os irmãos também tiveram que lutar contra as doenças importadas que literalmente dizimaram os brasileiros nativos durante os quatro séculos anteriores. Eles tiveram sucesso, de modo que as populações menores estão aumentando mais rápido do que a média nacional.
Os irmãos Villas-Bôas tiveram um papel fundamental na implantação do Parque Indígena do Xingu. Qual é o legado de conservação do parque?
Em 1952, logo após chegar ao Xingu, Orlando e três outros [os antropólogos Darcy Ribeiro e Eloisa Torres (diretora do Museu Nacional) e o marechal Aboim, chefe da aviação civil] tiveram a ideia revolucionária de criar uma vasta área de floresta protegida apenas para seus habitantes indígenas, não um parque nacional aberto aos visitantes. Eles persuadiram os então presidente e vice-presidente do Brasil. Mas ninguém previu nove anos de oposição violenta do governador de Mato Grosso e seus amigos do setor imobiliário, com apaixonadas campanhas na mídia de ambos os lados e debates intermináveis nas comissões do Congresso e do Senado.
Esse impasse foi finalmente quebrado em 1961, quando o Brasil elegeu o presidente Jânio Quadros, que era amigo pessoal da família Villas-Bôas e admirava sua experiência no Xingu. Jânio Quadros criou o parque com um decreto presidencial, depois de reduzi-lo para [os atuais] 26 mil quilômetros quadrados, de modo a pacificar o governador do estado. Esta ainda é uma área significativa.
Não se pode exagerar o legado de conservação deste parque indígena, porque ele foi replicado em toda a Amazônia, principalmente no Brasil e na Colômbia. Muitos territórios indígenas posteriores são muito maiores que o Xingu, mas este foi o pioneiro. O Brasil tem cerca de metade das florestas tropicais remanescentes do mundo. Portanto, os povos indígenas são os guardiões de uma proporção significativa desse ecossistema.
Como mudou o consenso público em torno da Amazônia desde que você começou a trabalhar na região?
Quando estive na Amazônia, há 60 anos, suas florestas estavam praticamente intactas, havia uma consciência ambiental mínima e os Villas-Bôas estavam apenas começando a mudar a opinião pública em favor dos indígenas. Durante as décadas subsequentes, mensagens ambientais foram emitidas com mais força do que em quase qualquer outro país, culminando na Cúpula da Terra das Nações Unidads em 1992, no Rio de Janeiro.
Por outro lado, os presidentes militares lançaram o Programa de Integração Nacional na década de 1970, que levou a Transamazônica e outras “rodovias de penetração” para a floresta. Isso foi possibilitado por duas invenções: motosserras e escavadeiras. O resultado foi a migração interna massiva e o desmatamento durante a década de 1980, particularmente ao longo da rodovia BR-364, em Rondônia e Acre, e da BR-163 norte-sul, chamada “Rodovia da Soja”.
Em uma nota positiva, durante essas décadas, cada povo indígena e seus apoiadores lutaram para criar as grandes reservas mencionadas acima, e havia muitas outras áreas de proteção ambiental e florestas nacionais em toda a Amazônia, todas muito elogiadas internacionalmente. Graças aos Villas-Bôas e muitos outros ativistas, a Constituição pós-militar de 1988 continha cláusulas pró-indígenas.
O desmatamento aumentou substancialmente nos últimos anos, e há sinais de que parte do bioma possa estar se aproximando de um ponto de inflexão, no qual a floresta tropical dá lugar a florestas de transição e pastagens arborizadas. Dadas essas tendências, além do discurso político atual no Brasil, quais são as suas perspectivas de longo prazo para a Floresta Amazônica como nós a conhecemos?
A comunidade científica não concorda sobre a ameaça de um ponto de transformação e não tem certeza de qual seria o limite para tal evento. Um ponto crítico em toda a Amazônia seria quando a perda de floresta, por meio de desmatamento ou incêndios, causasse uma redução das chuvas que, por sua vez, causaria um maior recuo das florestas. Também poderia haver uma liberação inimaginavelmente grande de carbono sequestrado naquele bioma, o que seria uma catástrofe em escala mundial. Há indícios de que o desmatamento, a seca e os incêndios estão empurrando as bordas da Floresta Amazônica para esse ponto. Os cientistas não têm certeza. Mas o princípio da precaução seria um argumento para uma proteção reforçada.
A opinião pública brasileira ainda é geralmente a favor da conservação ambiental e contra o desmatamento generalizado na Amazônia. Mas muitos acham que isso é de importância secundária nesta época de crescente reclusão e depressão econômica devido à covid-19. As pessoas se tornaram indiferentes aos índices alarmantes que ouvem constantemente. Há uma polarização ideológica, com muitas notícias falsas, de que o desmatamento não é tão ruim, ou que seus críticos são ambientalistas mal intencionados que querem desestabilizar o governo. Bolsonaro e seu governo estão preocupados apenas com seu eleitorado cativo de fanáticos ignorantes.
Existe alguma coisa que lhe dá esperança para a Amazônia?
Desde a Constituição de 1988, todo presidente brasileiro tinha respeitado os territórios indígenas. Mas Bolsonaro declarou que não vai demarcar um hectare a mais de terra indígena, e disse que irá revisar quaisquer territórios que não tenham sido totalmente homologados no registro de terras. Uma instrução normativa em 16 de abril de 2020 sancionou a certificação de ocupação irregular dessas terras indígenas. E os agentes do Ibama sabem que o regime fecha os olhos ao desmatamento ilegal, à extração de madeira ou à prospecção — tudo isso de forma desenfreada.
Há uma pequena esperança de que este governo perceba que as florestas tropicais geram chuvas. Assim, os lucros e receitas de exportação da soja e da carne produzida na floresta destruída são em muito superados pelas perdas com a seca nos ricos mananciais de alimentos do sul do Brasil, em metrópoles como São Paulo, e na energia de hidrelétricas em rios secos. Eles são fanáticos demais para apreciar os outros dois grandes benefícios dessas florestas: o fato de sequestrarem quantidades gigantescas de carbono da poluição atmosférica e que são o ecossistema mais rico do mundo. Bolsonaro afirma ser um cristão temente a Deus. Mas ele não tem escrúpulos em destruir as vidas e habitats de milhões de criaturas que seu Deus colocou em nosso planeta.
O que pessoas comuns nos EUA ou na Europa podem fazer para ajudar a Amazônia?
Os consumidores poderiam tentar evitar a compra de madeira, soja ou carne de terras amazônicas desmatadas. É claro que isso é extremamente difícil de identificar, ainda mais porque a soja é muito utilizada na alimentação animal e existem bilhões de frangos em todo o mundo. Mas os consumidores podem pressionar seus supermercados e lojas a fazerem todos os esforços para identificar e boicotar esses produtos.
Ninguém no mundo gosta que os estrangeiros digam o que fazer, muito menos os orgulhosos brasileiros de seu grande país. Uma importante antropóloga brasileira me disse que a ação direta, como bombardear políticos, é contraproducente. Mas ela disse que os brasileiros gostam de ser amados. Devemos, portanto, tentar gerar comentários e cobertura crítica da mídia, que sejam relatados por diplomatas. Portanto, a Mongabay está fazendo um trabalho valioso.
*A entrevista reproduzida aqui foi originalmente publicada no site Mongabay. As opiniões contidas neste texto não necessariamente refletem as opiniões do Portal eCycle.